Santa Graça é um pequeno vilarejo mineiro nos anos 1930 que quer virar modelo de “virtude e limpeza” para o Brasil. No alto da cidade fica um casarão velho onde moram três senhoras — Dália, Lobélia e Alpínia — e o adolescente Lázaro, adotado por elas quando era bebê. As velhas ensinam ao rapaz religião, piano, idiomas e noções de anatomia, sempre com o rádio ligado para abafar sons vindos do sótão.
Enquanto os líderes locais abraçam ideias eugênicas para “purificar” a população, moradores que não se encaixam nesse padrão — negros, doentes, corpos considerados “imperfeitos” — passam a ser vigiados ou desaparecem. O livro acompanha essa escalada de tensão até um desfecho que mostra o custo humano desse projeto.
A eugenia é uma ideologia que, sob o pretexto de “aperfeiçoar” a humanidade, classificou vidas como superiores ou inferiores com base na raça. Ela defende que certos grupos étnicos seriam biologicamente mais aptos, mais inteligentes, mais dignos de se reproduzir, enquanto outros deveriam ser contidos, silenciados ou eliminados. Essa lógica perversa sustentou políticas de esterilização forçada, controle de imigração, exclusão social e, em seus extremos mais sombrios, genocídios justificados como ciência. A eugenia não apenas legitimou preconceitos — ela os transformou em leis, tratamentos médicos e projetos de nação. Sua herança ainda ecoa em discursos disfarçados de ordem, saúde ou progresso, e por isso precisa ser lembrada com rigor e denunciada com clareza.
Entre o final da década de 1910 e meados da de 1930, o Brasil viveu um período em que as ideias da eugenia ganharam força entre médicos, cientistas, políticos e intelectuais. Era uma época em que parte da elite acreditava que o país só avançaria se “melhorasse” biologicamente sua população — uma visão que misturava ciência, preconceito e ambições de ordem social.
Inspirado por correntes internacionais — especialmente da Europa e dos Estados Unidos — o movimento eugênico brasileiro se organizou de forma concreta. A Sociedade Eugênica de São Paulo, criada em 1918 pelo médico Renato Kehl, foi o primeiro grupo do gênero no país. Era mais do que uma ideia: era um projeto político e institucional.
Nos anos seguintes, surgiram outras iniciativas. A Liga Brasileira de Higiene Mental, fundada em 1923, reuniu psiquiatras e sanitaristas que viam uma ligação direta entre saúde pública e o que chamavam de “higiene da raça”. Para eles, cuidar do corpo coletivo do país era também controlar seus desvios — físicos, morais, mentais.
O ponto alto desse movimento aconteceu em 1929, com o 1.º Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado no Rio de Janeiro, então capital federal. O evento teve apoio de figuras importantes da Academia Nacional de Medicina e mostrou como aquelas ideias estavam se espalhando entre os círculos mais influentes do país.
Na mesma época, foi criado o Boletim de Eugenia, um periódico que reunia artigos, projetos de lei e campanhas em defesa da eugenia como política pública. Nele se discutiam temas como seleção de imigrantes, saúde materno-infantil e propostas mais radicais, como a esterilização de pessoas consideradas “degeneradas”. Embora nenhuma dessas medidas tenha sido aprovada como política nacional, as ideias circularam, influenciaram decisões e deixaram marcas nos programas de saúde e assistência social da época.
Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, o discurso eugênico continuou presente, ainda que mais diluído. Aparecia em projetos de educação sanitária, no controle da infância pobre, nas discussões sobre quem deveria ou não entrar no país como imigrante. A eugenia já não era apenas uma teoria: era uma parte das práticas do Estado.
Entre os nomes mais ligados ao movimento estavam, além de Renato Kehl, médicos e intelectuais como Miguel Couto, Edgard Roquette-Pint, Octavio Domingues e Monteiro Lobato — todos respeitados em suas áreas, todos defensores, em maior ou menor grau, da ideia de que era possível moldar uma população por meio da biologia e da política.
Renato Ferraz Kehl foi médico, farmacêutico, escritor — e por muitas décadas, o rosto e a voz da eugenia no Brasil. Em tempos de febre nacionalista e obsessão por progresso, ele assumiu o papel de missionário científico, pregando não só a cura do corpo, mas também o “aperfeiçoamento” da espécie. Uma figura que se moveu com desenvoltura entre frascos de remédio, artigos de jornal, salas de conferência e discursos públicos — sempre com a ideia fixa de um futuro moldado pela biologia. Era um homem de ciência, mas também de espetáculo. Sabia que ideias, para sobreviver, precisam de vitrines.
No ano de 1918, fundou a Sociedade Eugênica de São Paulo, reunindo mais de uma centena de médicos e intelectuais. Dentre eles, Monteiro Lobato. Kehl organizou congressos, escreveu artigos, publicou panfletos. Criou o influente Boletim de Eugenia e coordenou a Comissão Central Brasileira de Eugenia, com o objetivo de aconselhar o governo sobre políticas de melhoramento racial.
Para Kehl, a eugenia não era uma ideia científica entre tantas. Era “a religião da humanidade”. Seu vocabulário misturava ciência, moral e destino. Defendia higiene e saneamento como eugenia preventiva, mas também propostas mais duras: exames pré-nupciais obrigatórios, controle dos casamentos, esterilização compulsória de pessoas consideradas portadoras de “degenerações”, e seleção de imigrantes com base em critérios raciais.
Nos anos 1930, elogiou publicamente a política eugênica do regime nazista, o que manchou ainda mais o nome que já era alvo de críticas crescentes. Mesmo assim, seguiu adiante, firme em suas convicções. Nos últimos anos, após a Segunda Guerra Mundial e a queda moral da eugenia diante do horror nazista, Kehl viu suas ideias perderem espaço. Mas ele nunca abandonou sua missão. Continuou escrevendo sobre saúde, psicologia, educação — sempre orbitando em torno da mesma obsessão: o corpo como território a ser moldado, regulado, purificado.
Monteiro Lobato não foi apenas simpatizante. Utilizou sua influência e sua escrita para dar forma pública a essas ideias. Seu texto “Problema Vital”, publicado no mesmo ano da fundação da sociedade, contou com apoio direto da entidade e trazia um discurso claro: era preciso “curar” a população brasileira — e isso, para ele, passava por um processo de saneamento, higiene, disciplina… e também por um ideal de “melhoramento racial”.
Esse pensamento não foi pontual. Ao longo das décadas de 1920 e 1930, Lobato repetiu essas ideias em artigos, correspondências e obras. Em algumas cartas, chegou inclusive a elogiar a atuação da Ku Klux Klan, organização supremacista que promovia o terror racial nos Estados Unidos. Em seu romance “O Presidente Negro”, imaginou um futuro onde pessoas negras seriam esterilizadas, como solução para uma sociedade marcada por conflitos raciais.
Publicado em 1918, “Problema Vital” reúne catorze artigos escritos por Monteiro Lobato no jornal O Estado de S. Paulo. À primeira vista, parece um esforço jornalístico, um conjunto de textos práticos. Mas há algo mais sombrio e pulsante entre as linhas — algo entre a denúncia e o manifesto, entre o zelo e o controle.
A edição original foi financiada pela recém-fundada Sociedade Eugênica de São Paulo, e o prefácio veio das mãos do médico Renato Kehl. O livro não apenas acompanhou o nascimento do grupo. Foi o seu primeiro gesto público. Um batismo impresso.
O Jeca Tatu, antes figura cômica e preguiçosa em “Urupês”, retorna. Mas agora, não é mais causa do atraso. É seu sintoma. Lobato escreve: “O Jeca não é assim. Está assim.” O que o deformou foi a falta de saneamento, a ausência de higiene, a lama que cobre os pés descalços por toda a vida. A saúde, para ele, não é um tema médico — é um problema nacional, existencial, vital. Sem curar o povo, não há economia, não há exército, não há pátria. E, nas entrelinhas, não há raça forte. É aí que a sombra se alonga: o sanitarismo cruza com a eugenia, e o discurso da saúde pública se mistura ao desejo de aperfeiçoamento biológico, ao ideal de limpar, curar, disciplinar corpos para servir a uma nação que ainda não existe.
Cada capítulo traz números, fotografias, estatísticas. Mas por trás dos dados, há suor, febre e medo. Títulos como “Saneamento ou morte”, “O país-hospital”, “A ressurreição de Jeca Tatu” — todos ecoam como sentenças. A linguagem é direta, seca, mas por vezes deixa escapar uma poesia sombria, como quem descreve um corpo à beira do colapso. Esse mesmo corpo — o do povo doente — vira também peça de propaganda. A imagem do Jeca refeito a partir de um fortificante — o Biotônico Fontoura — transforma a crítica em publicidade. Um gesto ambíguo, onde literatura, ciência e mercado se fundem num só rótulo.
Lobato, com seu estilo duro e fervoroso, denuncia a miséria rural com vigor. O higienismo, o ideal de raça, a crença em uma engenharia biológica da sociedade aparecem como fantasmas nos cantos do texto. Não gritam, mas pairam. Silenciosos. Presentes. “Problema Vital” é um livro que abre o peito da nação, e, ao fazê-lo, revela tanto os vermes quanto os desejos profundos de purificação.
Lobato não foi o único. Alguns nomes que a historiografia costuma citar como participantes ou simpatizantes do movimento eugenista no Brasil entre 1910 e 1930:
- Paulo Prado – ensaísta modernista; em Paulística (1925) e Retrato do Brasil (1928) discutiu a formação racial do país usando argumentos de “degeneração” e “tipo eugênico”.
- Alfredo Ellis Júnior – historiador e deputado; no livro Raça de Gigantes (1926) e em projetos de lei defendeu a seleção de imigrantes por critérios biológicos.
- Menotti Del Picchia – poeta e romancista; a utopia futurista A República 3000 (1930) descreve uma sociedade “aperfeiçoada” pela mistura euro‑indígena. Também participou do debate sobre imigração “racialmente adequada”.
- Cassiano Ricardo – poeta do grupo Verde‑Amarelo; via a mestiçagem euro‑ameríndia como base de uma “nova raça” forte e moderna.
- Plínio Salgado – escritor e futuro líder integralista; nos ensaios dos anos 1920 exaltou a criação de um “tipo brasileiro” regenerado biologicamente.
- Adalzira Bittencourt – jornalista e ficcionista; em textos como Quando uma mulher for presidente defendeu que a eugenia seria o caminho para o progresso nacional e feminino.
- Azevedo Amaral – médico, cronista político e tradutor; apresentou a tese “O problema eugênico da imigração” no 1.º Congresso Brasileiro de Eugenia (1929).
- Oliveira Vianna – jurista e sociólogo; em obras sobre formação social propôs controle reprodutivo e esterilização de “inaptos”.
- Edgard Roquette‑Pinto – médico, antropólogo e divulgador científico; discursou na abertura do Congresso de 1929 exaltando a eugenia como aliada da higiene e da medicina.
- Belisário Penna – sanitarista e escritor de divulgação; falava em “eugenia preventiva”, ligando saneamento à “melhoria” da população.
Esses autores usaram a literatura, o ensaio e a imprensa como instrumentos. Com palavras bem postas e argumentos de prestígio, defenderam um ideal de “melhoramento racial”. Havia diferenças entre eles — sobre miscigenação, imigração, métodos — mas o projeto era comum: reorganizar a sociedade a partir de critérios biológicos, como se a humanidade pudesse ser corrigida pela exclusão.
Esse discurso encontrou força por décadas. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, o silêncio forçado se impôs. As imagens do nazismo — dos campos, das experiências, dos corpos — mostraram ao mundo o que acontece quando essas ideias são levadas até o limite. O que antes era defendido como ciência passou a ser reconhecido como barbárie.
O Brasil também recuou. A palavra “eugenia” perdeu espaço, foi apagada dos jornais, evitada nos discursos. Mas nem todas as ideias morreram com ela. Algumas sobreviveram, adaptadas, camufladas em projetos de saúde pública, em políticas de segurança, em debates sobre pobreza e educação. Mudaram de nome, mas mantiveram o desejo de controle. Revisitar essa parte da história não é apenas lembrar o que foi dito — é reconhecer o que ainda persiste, mesmo quando ninguém mais fala em voz alta.
“PURO” utiliza da ficção para expor o Brasil dessa época em uma cidade fictícia chamada Santa Graça. A narrativa se fragmenta em vozes. Não há uma linha reta, nem um narrador absoluto. Cada personagem pensa, fala, escuta, vê — e tudo se alterna com rapidez e leveza dentro de pequenos trechos marcados com verbos como “pensa”, “fala”, “escuta”, “vê”. Essa alternância rápida e constante de pontos de vista cria uma narrativa polifônica, rica em subjetividade, e faz o leitor transitar entre diferentes perspectivas emocionais e sociais.
Lázaro tem quinze anos e a pele branca, mas carrega nas veias mais do que sangue: carrega um discurso. Foi criado desde bebê por três velhas num casarão antigo. Cresceu entre rituais domésticos e orações. Sonha em ser político, mas já aprendeu a dominar com palavras cortantes. Repete o que ouve como quem reza, ecoando o discurso eugenista da cidade com a violência de quem nunca foi contradito. É jovem, mas seus gestos são antigos.
Dália é uma das três velhas — talvez a mais serena. Religiosa, ensina a Lázaro o catecismo e o piano. Suas lições vêm com ternura e firmeza, como se a música e a fé pudessem moldar o espírito. Mas mesmo nas notas suaves que ela repete ao teclado, há algo rígido, uma doutrina que não se move.
Lobélia, a segunda senhora do casarão, cuida dos idiomas. Ensina palavras de fora, mas vive presa dentro. É erudita, contida, como quem se esconde atrás da gramática para não sentir o que o mundo insiste em mostrar. Suas lições são precisas, mas carregam um eco de autoridade antiga, de mundo dividido entre os que sabem e os que devem obedecer.
Alpínia cuida da cozinha, das panelas, dos cheiros — mas também do corpo. É ela quem passa a Lázaro noções de anatomia, como se a carne humana fosse parte do cardápio do controle. Tem um saber prático, direto, que serve tanto para curar quanto para justificar. Ensina com gestos, mas com um olhar que pesa.
Íris é o silêncio que resiste. Mulher negra, empregada nas duas casas — a do casarão e a da frente —, carrega nos olhos a dor de quem já perdeu demais. Seu filho, Joaquim, foi levado por uma cirurgia forçada, e desde então ela caminha como quem carrega os escombros do próprio ventre. Fala pouco, mas quando fala, a verdade vaza como um corte profundo. Íris é a única que vê com clareza o que os outros fingem não enxergar.
Ícaro é o filho de Olavo. Adolescente com deficiência, vive dopado, trancado no corpo e no silêncio. Lázaro zomba dele — com o desprezo aprendido em casa. Mas Ícaro, mesmo calado, é um espelho que incomoda. Protegido por Íris, ele sobrevive no limite entre o esquecimento e o afeto.
Olavo, seu pai, é um homem que vende palavras impressas — comerciante de rua, distribuidor da Enciclopédia da Eugenia Brasileira. Fala em progresso enquanto carrega a vergonha do próprio filho. Em sua voz, há sempre um traço de negação: não aceita, não assume, não toca na ferida que carrega no sangue.
Dr. Lírio é o médico local. O nome engana: não há delicadeza alguma nele. Representa o poder “científico”, frio, objetivo — o tipo de homem que esteriliza mulheres pobres com a mesma naturalidade com que escreve uma receita. Para ele, corpos são problemas a serem corrigidos. Vidas, estatísticas.
Padre Arcanjo guia a fé da cidade, mas usa o púlpito como escudo para discursos de exclusão. Legitima o racismo, o capacitismo, o medo. Sua religião não acolhe — organiza, ordena, separa. Diz servir a Deus, mas serve à ordem.
Helga é enfermeira, e sua maior mentira é o próprio nome. Falsifica a origem alemã para ser aceita como parte do projeto de “purificação” da cidade. Serve ao poder como quem busca abrigo. Não lidera, mas executa — e isso basta para deixar marcas.
A história se constrói em pequenos recortes de consciência, e o leitor é convidado a transitar entre esses pedaços de mundo, sentindo as emoções por dentro, como quem caminha em uma casa cheia de portas entreabertas. É uma narrativa polifônica, onde o silêncio de um personagem é atravessado pela fala de outro, e onde a realidade nunca tem uma só versão.
A escrita é direta, econômica. As frases curtas carregam o peso de quem aprendeu a conter o que sente — não por falta de emoção, mas por excesso dela. Nada explode: tudo pulsa por dentro. As personagens falam como vivem: com a boca da rua, com os erros e quebras da fala cotidiana. A linguagem é oral, popular, cheia de expressões regionais, ditos familiares, modos de falar que revelam origem, idade, classe, e um tempo muito específico. Não há artificialidade. Os diálogos respiram como gente, e cada fala parece carregada de história.
A atmosfera é densa, mas não grandiosa. Ela nasce do cotidiano, da rotina de uma comunidade que se repete em silêncio, mas que esconde coisas. Há um desconforto que paira no ar: uma tensão que se instala nos corredores, nas cozinhas, nas igrejas. O preconceito, a exclusão, a dor — tudo isso aparece sugerido, nunca exposto. Está nos gestos, nos olhares desviados, na presença ausente de alguém como Ícaro, que sofre sem que ninguém diga claramente por quê.
Há coisas que não são ditas. Não estão nas falas dos personagens, nem nas palavras da autora. Mas estão lá — claras como cicatriz aberta, visíveis nas entrelinhas, sufocantes no subtexto.
O médico esteriliza mulheres negras. Diz que é o apêndice, um procedimento de rotina. Mas não há infecção — há intenção. O que ele remove, na verdade, é o útero. O gesto é preciso, frio, clínico. Não para curar, mas para impedir. Para que elas não possam mais gerar corpos como os seus. Para que a raça não continue. Ele não fala isso. Mas o silêncio entre uma fala e outra grita.
O padre, revestido de batina e autoridade, não prega apenas exclusão racial ou capacitista. Ele leva crianças à igreja. Diz que é para salvar suas almas, expulsar os demônios. Mas tranca a porta. Tira-lhes a roupa. Tira-lhes o corpo. Não há descrição disso nas páginas. Mas o horror mora no que não se diz.
Lázaro é só um menino. Mas já se move como um homem velho, convencido de sua pureza, sedento por ordem. É a encarnação do totalitarismo embrionário: a ideologia do ódio vestida de boas maneiras. Um nazista em corpo infantil. Um produto domesticado pela doutrina.
Helga usa o jaleco branco como se fosse um uniforme de extermínio. Diz que aplica injeções, entrega receitas, salva vidas. Mas é da cura que ela retira o veneno. Decide quem merece continuar, e quem já nasceu errado demais para seguir. Não mata com raiva — mata com método.
Nada disso é mostrado diretamente. Não há confissões. Não há testemunhos explícitos. Mas não é preciso. Está nos gestos, nos cortes, nos silêncios. Está no modo como a cidade se organiza. Está na ausência de quem não sobrevive. Está onde a palavra não alcança, mas o leitor entende — e sente.
“PURO” é breve. Um conto, talvez uma novela. Mas carrega, em poucas páginas, um peso que não se mede pela extensão. A história assusta não pelo exagero, mas pelo reconhecimento. Porque, embora seja ficção, é feita de matéria real — e a realidade daquele tempo, tudo indica, foi muito mais cruel do que o que a autora ousa narrar.
Há quem diga que os diálogos se repetem, que certas falas soam insistentes, como se girassem em torno das mesmas ideias. Mas não é descuido, nem excesso. É intenção. Os personagens não evoluem porque não querem. Não mudam porque não sabem como. Repetem, porque acreditam. E acreditam, porque foram formados assim. O mundo deles é feito de certezas rígidas, e essas certezas se defendem pela repetição.
A repetição, então, não é falha — é forma. É uma maneira de mostrar como uma ideia, uma crença, uma violência disfarçada de razão se instala, se fixa e se propaga. Mesmo entre pessoas que se dizem boas.
“PURO” é curto, mas o eco que deixa dura mais do que o tempo da leitura.
AVALIAÇÃO: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| AUTORA: Lara Vidal EDITORA: Todavia PUBLICAÇÃO: 2024 PÁGINAS: 96 COMPRE: Amazon |
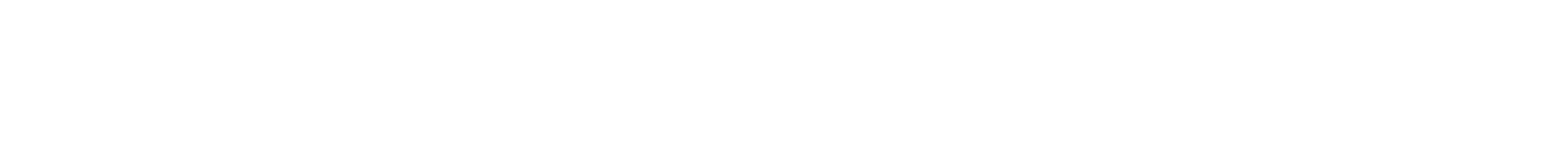
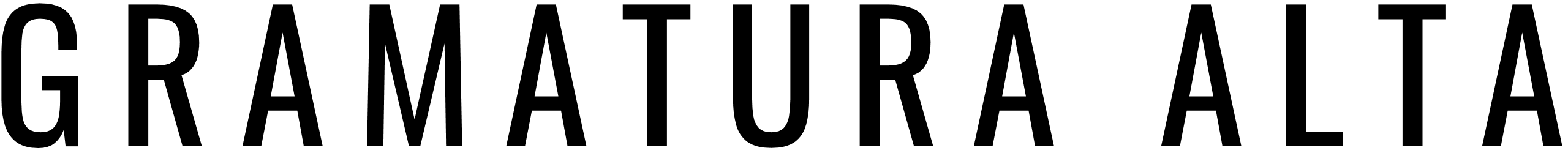
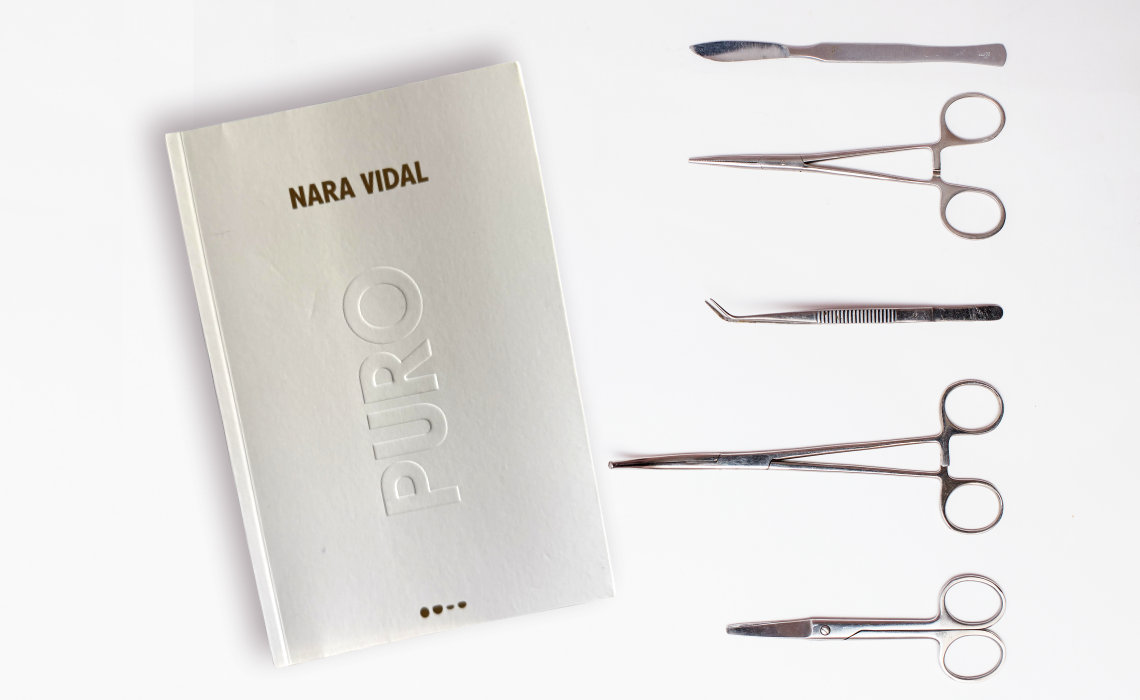


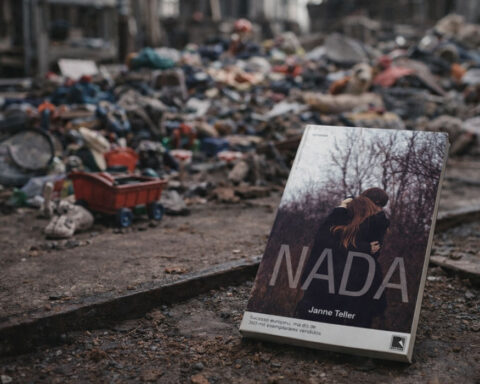
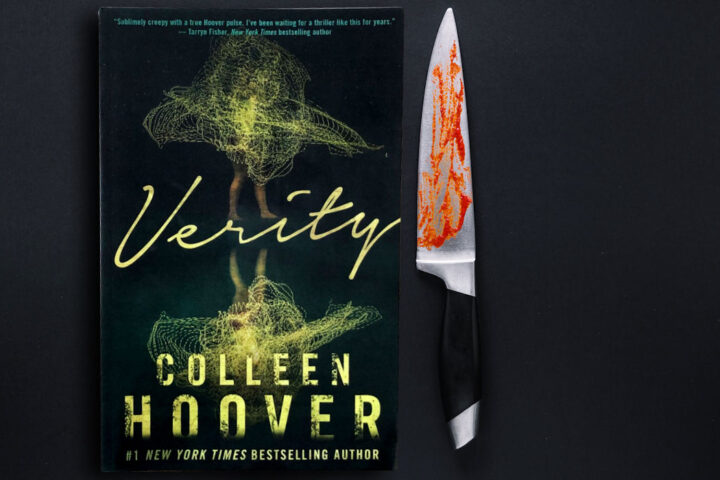
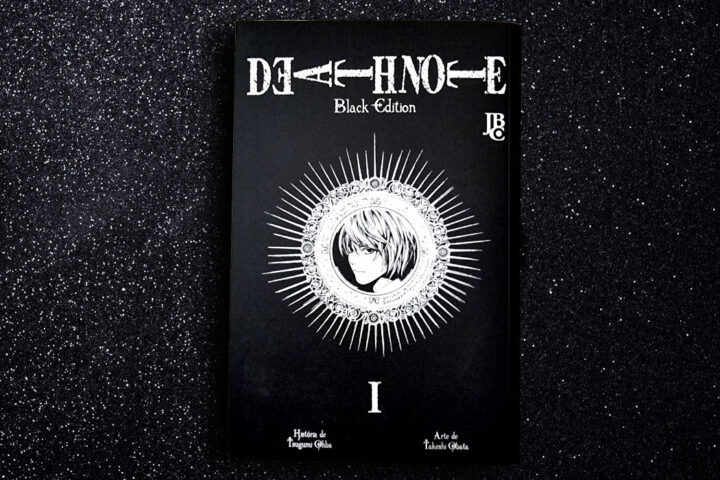
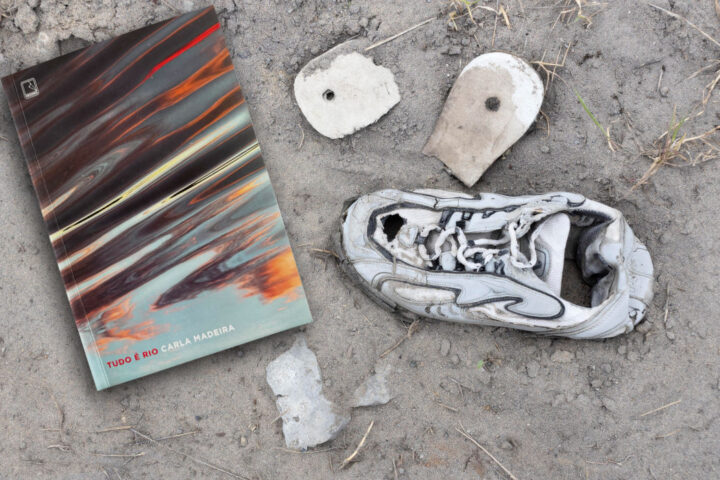
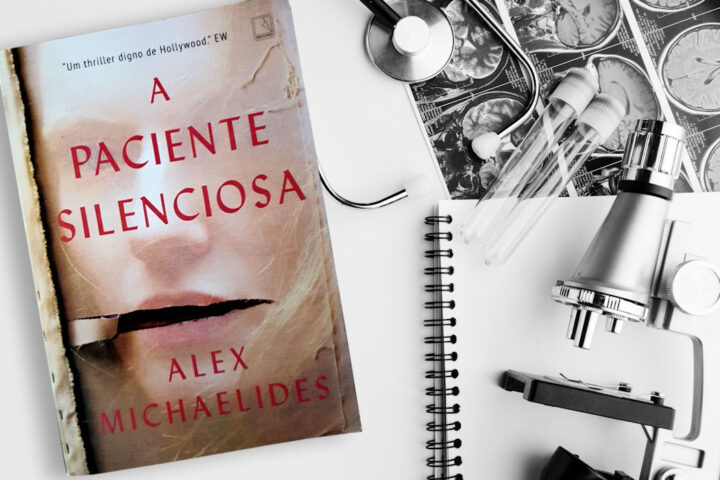
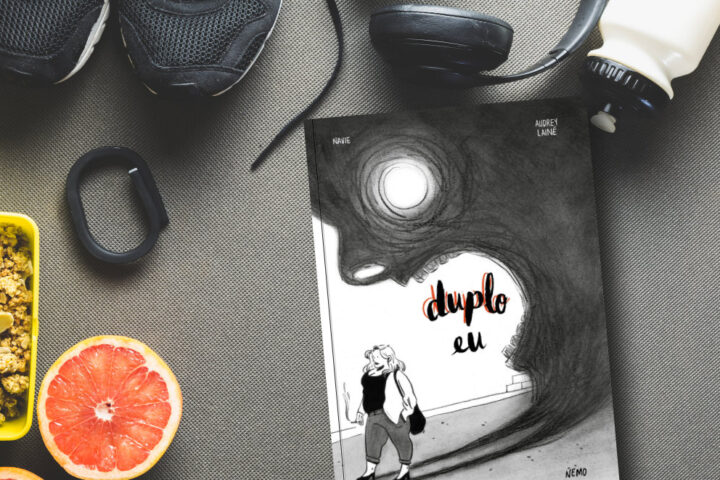
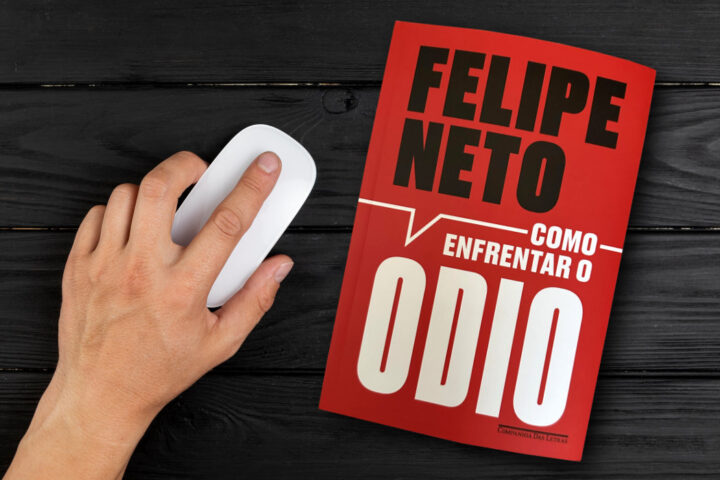
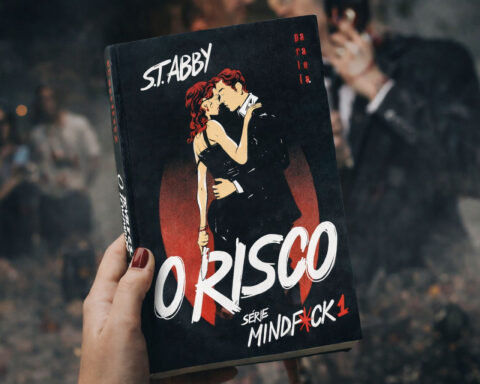
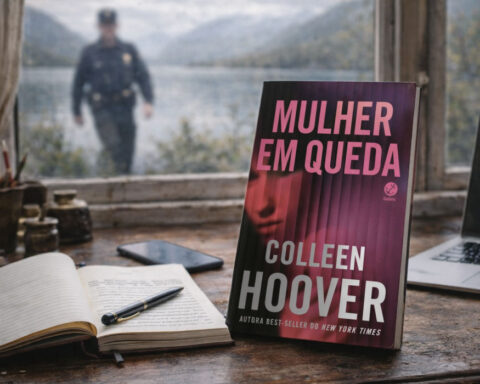


REDES SOCIAIS