Publicado pela primeira vez em 1915, “Terra das Mulheres” mostra como seria uma sociedade utópica composta unicamente por mulheres. Mas antes do leitor encontrar a suposta maravilha dessa utopia, terá de acompanhar três exploradores ― Vandyck Jennings, o narrador; o doce Jeff Margrave; e Terry O. Nicholson, o machão ― e suas considerações sobre esse país misterioso.
Os três possuem certeza absoluta de que ali também existem homens, ainda que isolados e convocados apenas para fins de reprodução. Afinal, um país só de mulheres, segundo eles, seria caótico, selvagem, subdesenvolvido e, claro, inviável. Uma vez lá, Van, Jeff e Terry oscilam entre a curiosidade científica e o impulso dominador do homem que acha que está descobrindo algo inédito, dividindo-se entre tentar entender aquela sociedade e fantasiar com um harém cheio de mulheres ávidas para servi-los.
Publicado pela Editora Rosa dos Tempos (selo da Editora Record), “Terra das Mulheres” não foi meu primeiro contato com a escrita de Charlotte Perkins Gilman. “O papel de parede amarelo”, publicado pela Editora José Olympio (outro selo da Record), já havia me deixado familiarizada (ou pelo menos gosto de pensar que sim) com o estilo da autora. Mesmo que as duas obras possuam propostas diferentes.
Como já contextualizado na sinopse, “Terra das Mulheres” é uma utopia feminista que, por trás de sua ficção especulativa, propõe um manifesto sobre gênero, poder e organização social. Mas antes de entrar propriamente na história, acho que vale destacar alguns pontos interessantes sobre a autora, o contexto da obra e minha experiência de leitura.
Um pouco de história (prometo que é útil!)
A obra da Charlotte inspirou o criador da Mulher-Maravilha e suas amazonas (o que já é uma ótima referência para quem gosta de curiosidades literárias). Mas além disso, o livro reflete muito o momento histórico em que foi escrito.
Charlotte nasceu em 1860, período em que a Revolução Industrial estava transformando o mundo. E por que isso é importante? Porque, entendendo que os avanços tecnológicos e industriais (como a eletricidade, o motor a combustão e o telefone) mudaram completamente a economia e o cotidiano, conseguimos supor (ou ao menos tentar) parte do pensamento das pessoas daquela época.
Além disso, os primeiros grupos feministas já estavam na luta pelo direito ao voto, à educação e à independência econômica. “Terra das Mulheres” foi publicado um ano após o início da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, as discussões entre capitalismo e socialismo, mais do que presentes, estavam moldando a política global. Como muitíssimo bem colocado por Renata Corrêa, no prefácio da edição brasileira, “nesse contexto, resolver ou esgarçar os problemas da sociedade por meio de um esforço imaginativo era o esporte favorito de grandes escritores do período” (p. 7).
E nos Estragos Unidos? O país onde Charlotte nasceu estava expandindo sua fronteira, colonizando novas terras e perseguindo povos indígenas. Simultaneamente, foi um período marcado pelas leis segregacionistas de Jim Crow (absolutamente desprezível). A industrialização acelerada também trouxe novos desafios, como pobreza urbana e exploração da mão de obra feminina. Foi nesse contexto que surgiram movimentos literários realistas e naturalistas, como o realismo social, que denunciava desigualdades e injustiças.
E é aí que faço um paralelo. Essa necessidade de criar sociedades fictícias que questionassem a ordem vigente não aconteceu apenas em 1915. Quer um exemplo? Foi quase a mesma coisa que rolou quando surgiram livros como “Jogos Vorazes” (2008), “Divergente” (2011) e “Maze Runner” (2009). Em 2008 tivemos uma crise econômica global, e o colapso financeiro fez com que a confiança nas grandes corporações e nos governos despencasse. Além disso, o avanço digital trouxe novas paranoias sobre privacidade, manipulação midiática e controle estatal. Enfim… acho que deu para entender onde quero chegar.
Quem foi Charlotte Perkins Gilman? (calma, vai fazer sentido!!)
Gilman (meio empática, me recuso a usar o sobrenome do genitor) foi uma escritora, feminista e ativista social norte-americana, cuja vida e obra refletem intensamente as questões de gênero e os debates políticos e econômicos de sua época. Ela nasceu em uma família de classe média em Hartford, Connecticut, e teve uma infância marcada pela ausência paterna.
Seu pai, F. B. Perkins, abandonou a família quando ela ainda era pequena, deixando sua mãe, Mary Gilman Perkins, em uma situação financeira extremamente precária. Como a mãe era incapaz de sustentar a família sozinha, Charlotte estava frequentemente na presença das tias de seu pai: Isabella Beecher Hooker, sufragista, Harriet Beecher Stowe, autora de “A cabana do pai Tomás” (nunca li), e Catharine Beecher, educadora. Ou seja, Gilman cresceu em um ambiente de mulheres resilientes e politicamente engajadas.
Arriscar-se a construir um universo-manifesto-fictício (como ela fez em “Terra das Mulheres”) sempre foi, e continuará sendo, um desafio. Como bem colocado pela diva Renata, no prefácio da edição: “Não existe utopia totalizante que abarque a diversidade de todas as pessoas, assim como não existe distopia em que as suas regras não agradem uma ou outra alma” (p. 7).
Se em distopias como “Jogos Vorazes” temos sociedades opressivas, injustas e disfuncionais, nas utopias, por outro lado, temos mundos idealizados, onde tudo funciona perfeitamente, sem desigualdade ou sofrimento (ao menos na teoria). E “Terra das Mulheres”, bem, oficialmente, é uma utopia feminista.
Gilman imagina um mundo onde as mulheres criaram uma sociedade avançada e pacífica sem a presença dos homens. “O germe de uma distopia necessariamente dorme dentro de uma utopia e vice-versa, como no símbolo oriental representando o Yin e Yang” (p. 8). Ou seja, a coisa nunca é tão simples assim.
Porque, veja bem, qualquer ideal de sociedade perfeita sempre vem com alguns detalhes duvidosos. Quem define o que é um mundo ideal? Para quem esse mundo é perfeito? Quem fica de fora?
E aqui entra um ponto que não dá para ignorar, Charlotte é muito específica ao abordar igualdade. Mas uma igualdade bem seletiva: entre homens e mulheres brancos e heterossexuais, e claro, vindos de países de primeiro mundo.
Gilman era uma mulher branca, de classe média, com 55 anos de idade quando “Terra das Mulheres” foi publicado. Criada em um ambiente com influência feminina, sua obra, por mais inovadora e instigante que seja, também tem suas limitações. Isso faz com que o livro seja difícil de engolir?
Pior que não. A leitura não é árdua. Na verdade, é bem fluida. Os 12 capítulos se distribuem ao longo de 256 páginas, o que não é muito, mas também não chega a ser um livro curto. A escrita prende, o ritmo é gostoso, e a tradução da Flávia Yacubian? Um primor!
Sei que lá em cima pode ter parecido um pouco desestimulante a forma como falei sobre Charlotte e sua realidade, mas o que eu entendo é que a instabilidade financeira e emocional da sua infância moldou sua visão crítica sobre a dependência econômica das mulheres. Casou-se com apenas 24 anos e, após o nascimento de sua filha, experimentou um profundo episódio de depressão pós-parto.
Isso também me faz refletir sobre o quanto a vida de Gilman foi uma tentativa constante de romper com as limitações impostas a ela. E talvez seja por isso que “Terra das Mulheres” tenha essa pegada meio didática, meio subversiva. Porque, no fundo, Charlotte não estava apenas criando uma história. Ela estava tentando construir uma alternativa ao mundo que conhecia.
E é aqui que eu mudo o tom da resenha. A partir de agora, minhas opiniões sobre a história vão ficar um pouco mais sombrias.
Isso é um subtítulo. Eu precisava de um.
Apesar dos pontos que já mencionei, preciso dizer que me surpreendeu descobrir que a história seria narrada em primeira pessoa por um personagem masculino. Isso porque, levando em consideração tudo o que já sabia sobre a autora e seu contexto, eu esperava uma narradora feminina. Mas não! O porta-voz da história é um homem, o sociólogo Vandyck Jennings, ou simplesmente Van.
Foi um daqueles choques cômicos. Tipo: “Caramba, ela continua ousada”.
A história começa com Van e seus amigos — Jeff e Terry — embarcando em uma expedição exploratória em uma floresta tropical no hemisfério sul.
Van nos apresenta Jeff como “um homem aparentemente meio Walter Salles” (ok, isso foi minha imaginação), branco, hétero, romântico, com um orgulho inabalável em ser passivo e tempo de sobra para estudar sobre o mundo.
Já Terry é apresentado como o rico explorador macho-alfa da turma, cujo maior objetivo na vida é descobrir coisas e possivelmente colonizá-las. Agora, atenção para isso: Terry não é um personagem.
Ele é um arquétipo.
Ele é o machismo puro e destilado encarnado em um homem branco e rico. Desde as primeiras páginas, Terry é insuportável. Não há nada nele que crie abertura para identificação. Ele é uma ideia, e não uma pessoa. Normalmente, isso me incomodaria. Mas, considerando o propósito da história, acho que funciona.
Sem Terry, quem faria o contraponto necessário?
O choque de Van, Jeff e Terry ao perceberem que realmente não existem homens no país das Mulheres traz um certo alívio cômico para a narrativa. Eles ficam atônitos. Primeiro, porque não conseguem entender como um lugar assim poderia funcionar. Depois, porque a ideia de uma sociedade sem homens os aterroriza de um jeito quase engraçado.
E sobre as mulheres? Van as descreve como tudo o que uma mulher “poderia” desejar ser: pacientes, sábias, independentes, fortes, donas de um propósito de vida.
E isso seria ótimo, se não fosse por um pequeno detalhe: elas são idealizadas demais. Van insiste que elas têm personalidades próprias, mas… eu não compro essa ideia. Elas são sempre pacientes, racionais, generosas e nunca demonstram raiva ou irritabilidade.
E aqui entra uma questão importante: a raiva feminina é soterrada nessa utopia. E isso me fez pensar, uma sociedade onde as mulheres nunca sentem raiva é realmente uma utopia? Ou é só uma nova forma de controle?
Van é um narrador (não tão) confiável.
Agora sim, vamos falar de Van, nosso narrador. Diferente do insuportável do Jeff (sim, estou insistindo nisso), Van é aquele personagem feito para gerar identificação rápida. Ele é os nossos olhos na história, então a leitura flui através de suas observações.
A princípio, imaginei que Van seria um narrador meio traiçoeiro, daqueles que tentam se passar por imparciais, mas soltam pequenas frases que revelam o contrário. Van gosta de se apresentar como um sociólogo racional e analítico, alguém que está apenas observando e aprendendo sobre a “Terra das Mulheres”, sem julgamentos precipitados. Uma bobagem, é o que eu digo!
Acho que declarar ao leitor que você é algo não é difícil. Difícil é convencê-lo disso. E Van não me convenceu. Ele declara suas limitações mentais várias vezes ao longo da narrativa, sempre naquele tom de “vejam como sou humilde e aberto a novas ideias”. Mas a verdade?
Ele se acha superior desde o começo. E aqui entra uma visão pessoal minha: Van é muito mais perigoso que Terry. Por quê? Porque Terry é escancaradamente tóxico, enquanto Van é sutilmente condescendente. Ele observa tudo com calma, sempre analisando de maneira “científica”, mas, no fundo, dá para sentir a resistência. E conforme a história avança, a sensação se intensifica.
E como é, um país SEM homens?
Quando finalmente chegam à misteriosa “Terra das Mulheres”, os três amigos ficam perplexos ao constatar que não há nenhum homem no país. Van nos apresenta essa sociedade detalhadamente, de um jeito quase antropológico e romântico ao mesmo tempo.
E o que move esse mundo? A maternidade. Isso mesmo. A maternidade é a base moral, social, política, econômica e psicológica dessa civilização. E a pergunta de milhões: se a maternidade é a base da sociedade, significa que toda mulher TEM que ser mãe? Não é bem assim…
Eu sou do time que acredita que a idealização da mãe como um ser abnegado, amoroso e intuitivo, que naturalmente se dedica ao bem-estar dos filhos, é uma construção social opressora. E Gilman não escapa dessa noção danosa.
Autoras como Simone de Beauvoir, Nancy Chodorow e Adrienne Rich já discutiram isso exaustivamente. A ideia de que ser mulher significa ser mãe reforça uma dependência emocional que impede a autonomia feminina (bem, pelo menos na nossa sociedade).
Outro questionamento importante, existem mulheres negras nessa utopia? Olha, eu realmente tentei me manter atenta às descrições das mulheres. Tentei mesmo. Mas a conclusão a que cheguei não me surpreendeu nem um pouco: não há mulheres negras em “Terra das Mulheres”.
E antes que alguém diga “ah, mas não precisava esperar tanto”, já aviso que sim, dava para esperar sim. Porque por mais que Gilman fosse uma feminista progressista para a sua época, ela simplesmente não parecia se importar muito com questões raciais (estou sendo gentil, rs).
Alô, lembra da autora de “A Cabana do Pai Tomás” que vivia com a Charlotte?? O livro aparentemente (digo aparentemente, pois li apenas o superficial sobre) contribuiu com a consciência de muitos sobre a iniquidade da escravidão e desempenhou um papel relevante na libertação dos escravizados nos Estragos Unidos.
E não, isso não é um momento “poxa, nenhuma negra?” no estilo dos comentários no Insta da Mari Maria. Gilman era eugenista. Isso significa que, apesar de lutar pelos direitos das mulheres brancas, ela acreditava que certos grupos eram “naturalmente superiores”. E isso explica muita coisa sobre a construção do mundo do livro.
Então, quando a gente fala sobre essa utopia, precisa se perguntar: utopia para quem? O ideal de feminilidade e maternidade é diferente para mulheres brancas e mulheres negras. E esse apagamento racial faz com que a tal utopia perfeita de Gilman fique um tanto… perigosa.
A maternidade como destino obrigatório (ou quase)
Constatando que a maternidade é uma construção social, fica a dúvida: em “Terra das Mulheres”, as mulheres têm autonomia para escolher serem mães ou isso é uma obrigação? A resposta é… sim e não.
Gilman constrói uma explicação lógica dentro do universo do livro, apenas um número X de mulheres engravida a cada geração, e apenas as que desejam podem gerar filhos. Isso parece progressista para a época — afinal, a maternidade não é forçada a todas. Mas, ao mesmo tempo, o sistema coloca a maternidade como centro de tudo.
Ou seja: não é bem uma obrigação, mas também não é completamente uma escolha. Não sou fã dessa ideia de que a identidade feminina está intrinsecamente ligada à maternidade, acho que é um problema, porque reforça a ideia de que mulheres só encontram propósito na maternidade; e faz parecer que a capacidade de gerar filhos define a experiência feminina.
Agora, voltando aos três exploradores: por mais que Van, Jeff e Terry percebam a superioridade da sociedade da “Terra das Mulheres”, isso não significa que eles aceitam isso de boa. Muito pelo contrário.
No início, os três ficam impressionados com a organização, inteligência e paz daquela civilização. Mas depois, algo muda. A admiração vira vergonha. A vergonha vira inveja. E a inveja vira omissão. E isso diz muito sobre como o orgulho masculino opera. Explico, em um determinado momento, Van e Jeff evitam conscientemente se aprofundar em certos temas, como se quisessem se poupar do desconforto de reconhecer que a sociedade deles (nossa) é falida. E, no final das contas, esse orgulho é uma forma de negação da realidade.
Se tem algo que precisa ser apreendido logo de cara é que em “Terra das Mulheres” não existiam homens. Logo, não existiam resquícios de danos causados por eles. Isso significa que não havia traumas coletivos ligados ao imperialismo, à violência sexual, à guerra ou à opressão masculina.
Van, em determinado momento, diz: “nação alguma pode suportar o que as companhias de navios a vapor chamam de ‘ato de Deus’ ” (p. 99). Mas essa ausência de danos realmente existe? Bem, pelo menos é o que Gilman queria nos fazer acreditar.
A romantização do Ser Mulher
Na construção das personagens de “Terra das Mulheres”, dá para perceber que Charlotte criou uma representação idealizada do que significa Ser Mulher. Faz sentido, é claro, que as mulheres dessa sociedade sejam pacientes, generosas e profundamente coletivistas. Afinal, não há homens projetando seus desejos nelas. Mas isso não cola totalmente. Porque mesmo sem uma estrutura patriarcal, a sociedade de “Terra das Mulheres” ainda opera dentro de um ideal muito específico do Ser Mulher.
O dissimulado do Van fica absolutamente chocado ao perceber que lá não existe o conceito de feminilidade como ele conhece. Ao longo do livro, percebi que as mulheres dessa terra não são apenas diferentes das mulheres do nosso mundo. Elas são diferentes entre si de uma forma que me pareceu… conveniente demais.
Se não existem homens, também não existem resquícios de misoginia, de culpa feminina, de insegurança ou de violência de gênero. Mas isso significa que não existem conflitos internos? Não existe raiva, rivalidade, ego, trauma? Tudo bem não ter violência, mas uma sociedade sem conflitos internos? Sem nenhuma bagunça emocional? Aí já é forçar a barra.
A utopia de Gilman se apoia na ideia de que mulheres, naturalmente, são mais pacíficas e harmoniosas. E adivinha? Isso é um discurso essencialista (chato pacasss). É um daqueles conceitos que parecem progressistas, mas no fundo, colocam as mulheres em uma nova caixinha social. E qualquer caixinha social, por mais bonita que seja, ainda me parece uma prisão.
O final: fiquei querendo mais
Eu até gosto de finais parcialmente abertos. Gosto da ideia de que algumas questões ficam para o leitor refletir. Mas em “Terra das Mulheres”? Fiquei querendo mais. Queria que Gilman tivesse escrito mais dois capítulos, talvez até uma continuação, explorando o que acontece depois da expedição. Porque, no final das contas, minha sensação foi: “Ok, tudo isso foi muito interessante, mas… e agora?”. Queria saber mais sobre as consequências do encontro entre essas duas sociedades. Queria mais choque cultural, mais questionamentos, mais impacto real na vida dos personagens.
Mas Gilman termina o livro antes de explorar tudo isso. E eu entendo. Talvez, para ela, a provocação já estivesse feita. Mas para mim? Podia ter um pouco mais de caos.
Em 1900, Charlotte casou-se pela segunda vez (com um primo, inclusive) e ficou com ele até sua morte, em 1934. Em 1935, Gilman descobriu um câncer de mama inoperável e, ao invés de esperar pelo inevitável, suicidou-se no dia 17 de agosto. Uma mulher certamente cheia de vontade própria.
E, cética como sou, e levando em conta tudo o que ela escreveu sobre a morte e a existência, imagino que Charlotte entenderia minha recusa em dizer coisas como “espero que ela esteja bem onde estiver” ou “que esteja no paraíso”. Porque, no final das contas, isso não faz sentido para alguém que não acredita nisso. E eu não preciso concordar com tudo o que Gilman acreditava para reconhecer a importância do seu trabalho e o impacto da sua escrita. Então, no fim das contas, apenas agradeço pela história.
AVALIAÇÃO: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| AUTORA: Charlotte Perkins Gilman TRADUÇÃO: Flávia Yacubian EDITORA: Rosa dos Tempos PUBLICAÇÃO: 2018 PÁGINAS: 256 COMPRE: Amazon |

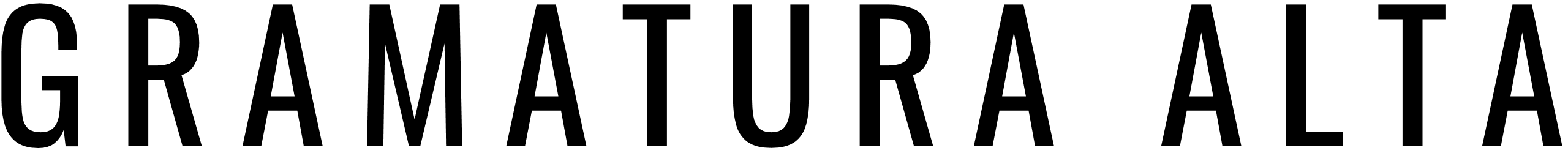




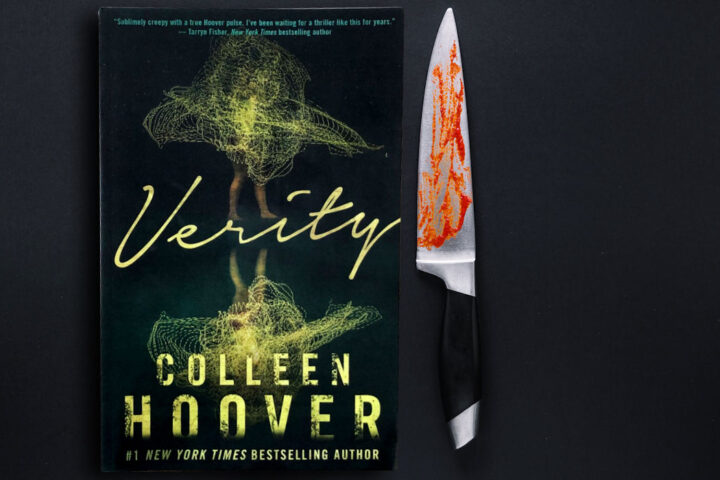
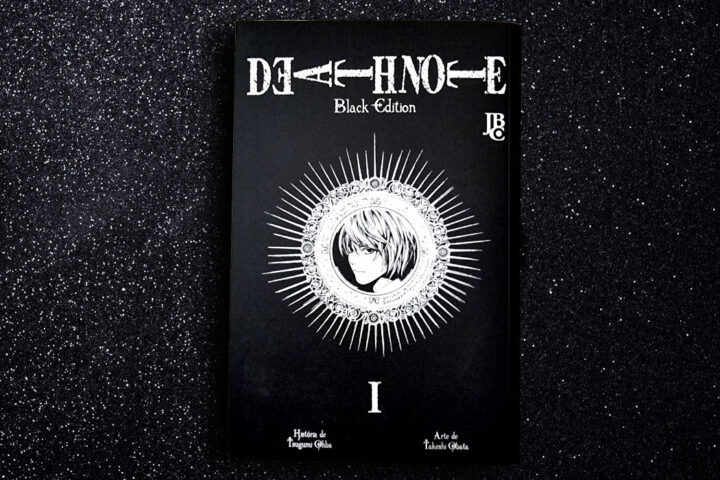
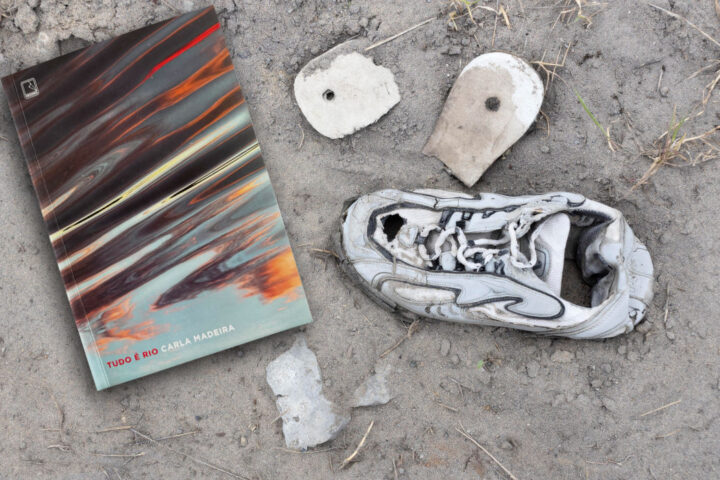
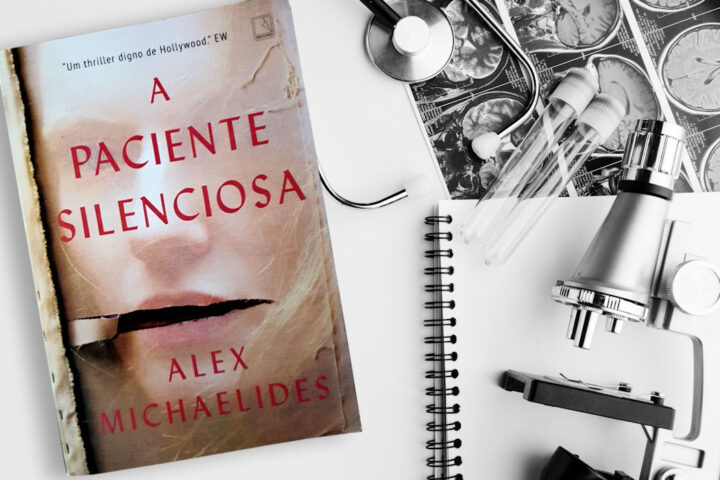



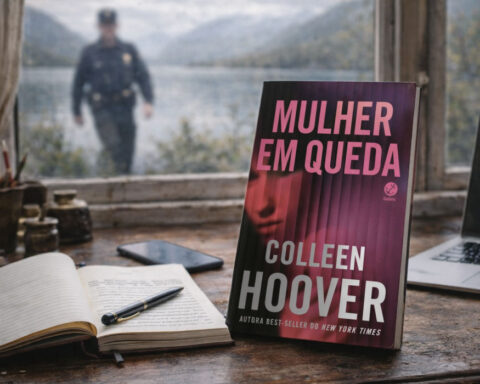


REDES SOCIAIS