Em “O assassinato no verão de 1999“, a trama parte de um ponto que, por si só, já seria emocionalmente pesado: a morte da matriarca da família Thomas. É nesse momento que os três irmãos, que já estavam afastados há anos, se veem obrigados a voltar para o mesmo teto e encarar o que restou da própria história. E o livro é muito esperto em não romantizar esse reencontro: não tem abraço bonito, não tem reconciliação automática, não tem “ai, no fundo a gente se ama”. Tem atrito. Tem mágoa velha. Tem aquela sensação de que os dois estão pisando em cacos de vidro tentando fingir que não dói.
Conhecemos os três de um jeito bem marcado (e isso ajuda muito a leitura a andar sem confusão): Beth é a mais velha e nunca saiu da cidadezinha, foi ela que ficou e cuidou da mãe até o fim. Nicole, a do meio, carrega um histórico de vício em drogas que afastou todo mundo e deixou cicatrizes em todos os vínculos. E Michael, o caçula, é o “bem-sucedido”, o que construiu uma vida longe dali… mas também é aquele que não olha para trás sem travar. E tem um detalhe que já vem latejando desde o início: ele não vê as irmãs desde que o pai abandonou a família sete anos atrás.
Só que o livro não se contenta em ser “um drama familiar com luto e ressentimento”. Ele dá o empurrão perfeito para transformar o luto em paranoia: momentos antes de morrer, a mãe solta um aviso final macabro, daqueles que mudam o clima do ambiente na hora: “Seu pai. Ele não desapareceu. Não confie…”
E é aqui que, para mim, a história vira uma armadilha deliciosa. Porque quando você coloca três pessoas quebradas dentro da mesma casa, com um passado mal-resolvido e um aviso desse tamanho pairando no ar, o suspense não precisa nem correr atrás do leitor.
O que eu gosto bastante é como Beth não é só “a irmã responsável”. Ela é a cara de quem ficou com a pior parte do abandono: a permanência. Aquele papel que muita gente assume sem perceber — segurar a família nas costas, virar adulto cedo, engolir emoção para funcionar. A obsessão dela em encontrar o pai não vem como mania gratuita; vem como consequência. E o livro explicita o custo disso: essa fixação já minou o casamento dela e o relacionamento com a própria filha, então a morte da mãe não é só uma perda, é também um colapso do pouco chão que ela tinha.
Nicole, por outro lado, é a ferida aberta. Ela carrega a culpa “viva” na sala, porque o vício vira um histórico que todo mundo usa como lente para enxergar tudo o que ela faz. E isso, honestamente, deixa o clima ainda mais tenso: porque a família parece sempre estar a um passo de transformar Nicole no bode expiatório perfeito, e isso diz muita coisa sobre como famílias funcionam quando não têm coragem de encarar a raiz do problema.
E o Michael é a fuga que deu certo. É a versão sofisticada do abandono: ele foi embora, ele cresceu, ele venceu — mas nada disso significa que ele está curado. Pelo contrário: às vezes, ele só aprendeu a fugir de um jeito que parece bonito por fora.
A partir daí, o livro faz algo que eu acho MUITO eficaz em thriller: ele introduz uma evidência que não dá para “explicar com opinião”. Enquanto vasculham os pertences da mãe, os irmãos encontram uma coleção de fitas com vídeos caseiros da família e decidem revisitar aquelas memórias que deveriam ser leves. Só que a nostalgia dura pouco. Em uma das fitas, acontece o tipo de coisa que vira ponto de não retorno: o pai aparece coberto de sangue… e logo depois surge um cadáver. E então o vídeo termina abruptamente.
Esse é o detalhe que, para mim, define o tom do livro: ele pega um objeto “inocente” (vídeo de família, memória doméstica, registro afetivo) e transforma em prova de horror. Não é só um mistério. É uma violação da ideia de lar.
E aí o suspense começa a se construir numa pergunta que o livro repete de jeitos diferentes o tempo todo: vale a pena saber a verdade, se essa verdade vai destruir o que ainda resta?
O livro coloca os três irmãos num dilema que não é só investigativo, é emocional. Porque não é sobre “resolver um caso”. É sobre mexer em um passado que foi enterrado justamente para que eles conseguissem seguir vivendo. E o mais cruel é: seguir vivendo não significou seguir bem. Significou só seguir.
Uma coisa que eu acho que funciona muito é o clima de cidade pequena, mesmo quando isso não vira um elemento exagerado, caricato. É aquele tipo de lugar onde todo mundo sabe um pouco, ninguém fala tudo, e a verdade sempre parece ter alguém protegendo. Nesse tipo de cenário, o perigo raramente entra pela porta da frente, ele já está ali, disfarçado de normalidade.
E a narrativa acompanha essa sensação com um ritmo que deixa a leitura bem viciante: é um suspense curto, de capítulos que fluem e prendem fácil, daqueles que te fazem dizer “só mais um” até ficar tarde.
Além disso, a história costuma ser comentada como sendo contada pelo ponto de vista dos três irmãos, alternando a visão de Beth, Nicole e Michael, o que ajuda muito a alimentar a desconfiança: você olha para o mesmo passado por ângulos diferentes e percebe que todo mundo está escondendo alguma coisa,até de si mesmo.
Mas o que fica mais forte, pra mim, é a mensagem por baixo do mistério. Porque sim, existe a pergunta óbvia: o que aconteceu no verão de 1999? Só que existe uma pergunta muito mais incômoda do que “quem matou quem”: o que uma família é capaz de fazer para continuar parecendo uma família?
O livro fala sobre legado, só que não um legado bonito. Ele fala de legado de violência, de herança emocional, daquela coisa que atravessa gerações sem precisar ser dita em voz alta. E quando a mãe morre deixando um aviso ao invés de um conforto, isso diz tudo: naquela casa, nem o “fim” vem com paz. Vem com alerta.
E é aí que eu acho que o thriller acerta: ele não transforma o crime em entretenimento vazio. Ele faz o crime ser uma espécie de rachadura, e tudo que os irmãos encontram só serve para provar que essa rachadura já estava ali fazia tempo, sustentando a casa inteira.
Ao mesmo tempo, dependendo do seu gosto, o livro pode parecer mais “trama veloz” do que “investigação bem trabalhada”. Como ele prioriza o impacto e a tensão emocional, algumas peças do mistério podem soar mais como choque narrativo do que construção lenta, cuidadosa, daqueles thrillers que vão costurando pistas de forma bem metódica.
Também senti que alguns conflitos entre os personagens às vezes esbarram naquele limite de “ok, isso é realista” e “ok, isso está se repetindo”. Porque a dinâmica familiar é intensa e caótica, mas em alguns momentos você pode querer um respiro maior — principalmente se você curte thrillers mais frios e objetivos.
E por ser uma leitura muito de ritmo, tem gente que pode achar que certas revelações acontecem rápido demais, ou que o livro confia bastante no efeito “vira a página” para segurar a tensão, em vez de aprofundar algumas partes com mais calma.
No fim, “O assassinato no verão de 1999” prende porque ele entende uma coisa muito simples: um mistério não precisa começar com um corpo. Ele pode começar com três irmãos se olhando como se fossem estranhos.
E isso, pra mim, é o que torna o livro tão fácil de devorar: a investigação não é só sobre o passado, é sobre perceber que talvez você nunca tenha conhecido as pessoas que te criaram. E quando essa ficha cai, não tem plot twist que seja só “uau”. Vira “nossa… então era isso”.
É um suspense que te dá curiosidade, sim. Mas o que ele te deixa mesmo é o desconforto: o preço do silêncio, o peso do abandono, e a sensação de que algumas verdades não resolvem — elas quebram.
AVALIAÇÃO: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| AUTORA: Jeneva Rose TRADUÇÃO: Jaime Biaggio EDITORA: Intrínseca PUBLICAÇÃO: 2025 PÁGINAS: 314 COMPRE: Amazon |

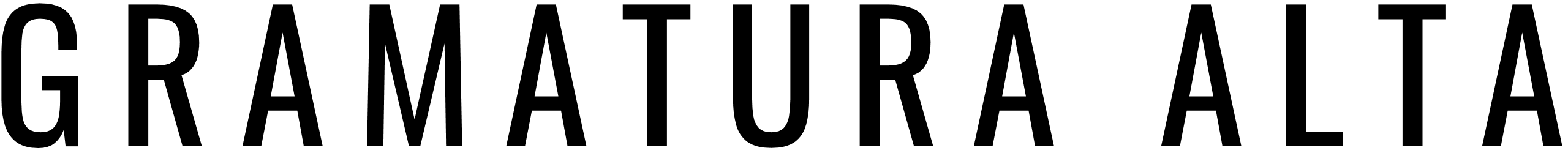




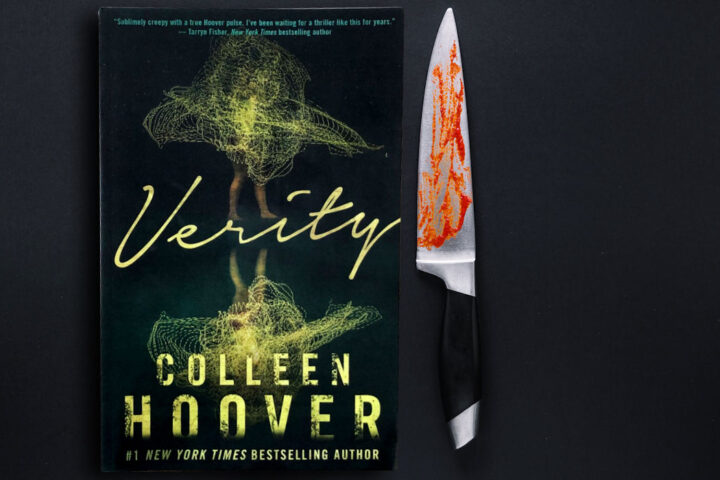
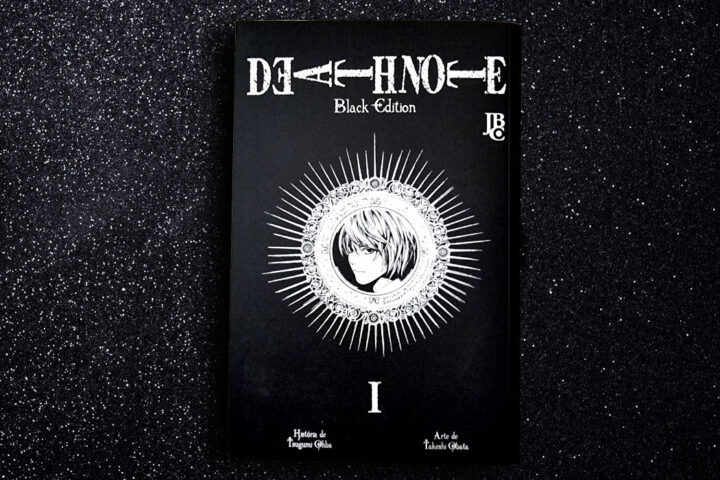
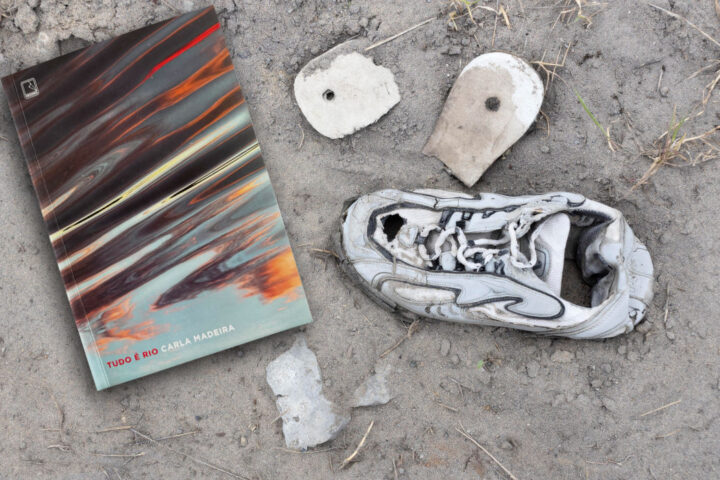
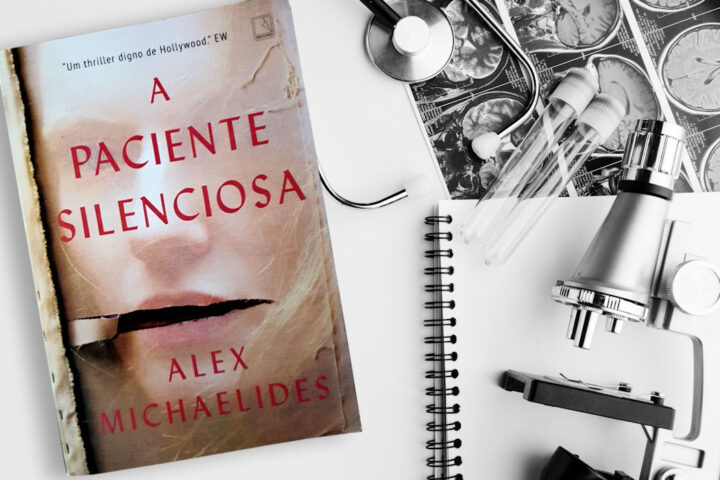



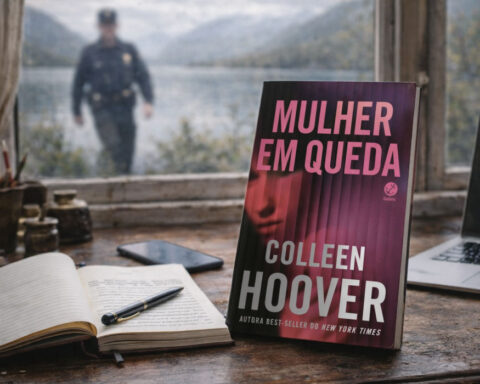


REDES SOCIAIS