Phoebe Stone chega a um hotel luxuoso em Newport, Rhode Island, vestida para impressionar — mas sem bagagem. Por trás da aparência elegante, esconde um propósito sombrio: ela foi até ali para morrer. O que não esperava era encontrar o lugar tomado por um casamento de alto luxo. Todos os hóspedes estão ligados aos noivos — todos, menos ela. A confusão sobre sua presença é imediata.
Quando Lila, a noiva, descobre o motivo da visita de Phoebe, reage de forma inesperada: insiste para que ela fique. Parte por medo de que uma tragédia manche seu grande dia, parte por uma curiosa empatia. Entre as duas surge uma relação improvável, feita de confissões, cumplicidade e espelhos dolorosos.
Ao longo da semana do casamento, Phoebe é, pouco a pouco, absorvida pela “família do evento”. Sem ter sido convidada, torna-se uma presença que perturba e transforma o ambiente e também a si mesma.
Através de lembranças fragmentadas, conhecemos o que a trouxe até ali: o fim de um casamento, as expectativas que ruíram, o peso do luto e o esvaziamento da esperança.
Entre os convidados, ganham destaque Gary, o noivo viúvo, e sua filha adolescente, Juice, que rejeita o novo casamento. Familiares, amigos e conhecidos orbitam em torno da celebração, cada um carregando segredos, ressentimentos e pequenas ruínas pessoais que, somadas, formam o retrato de um evento tão impecável quanto frágil.
“Como Arruinar um Casamento” se apresenta como uma ficção humorística e a sinopse reforça essa proposta. Mas basta iniciar a leitura, com um mínimo de senso crítico, sensibilidade e empatia, para que o tom comece a incomodar. As supostas piadas soam estranhas, e os momentos absurdos que deveriam aliviar a carga emocional acabam revelando, não leveza, mas insensibilidade. Falta profundidade, sobra descompasso. O resultado não é humor, mas um desconforto que transita entre o desconhecimento e, por vezes, o ofensivo.
Phoebe se hospeda no hotel com a intenção de tirar a própria vida. Quer viver um último dia de luxo antes de partir. Mas a personagem é tratada como alguém prestes a extrair um dente e não como alguém em crise suicida. Mesmo que o livro não pretenda ser um “retrato clínico” da depressão, ele precisa, ao menos, convencer o leitor de que Phoebe chegou àquele ponto por um acúmulo real de dor, e não por capricho de enredo.
Quando o texto falha em mostrar — ou mostra mal — as consequências concretas de uma espiral depressiva — o isolamento, a apatia, a anedonia, os pensamentos de morte, o embotamento, as contradições internas plausíveis —, o gesto extremo perde credibilidade. A tentativa soa mais como um gatilho conveniente de trama do que como uma experiência humana. E o que poderia ser uma jornada de dor e significado acaba reduzido a uma ideia “pitoresca”: uma mulher planejando morrer em um hotel chique.
A depressão é uma doença séria e potencialmente mortal. Não se trata de fraqueza, carência ou falta de fé — é uma condição que consome o corpo e a mente, silenciosamente, até que o mundo ao redor perca o sentido. Ainda assim, é tratada com descaso por grande parte das pessoas, que insistem em enxergá-la como exagero, drama ou falta do que fazer. Essa banalização cotidiana é cruel, e a ficção, quando reproduz esse olhar sem consciência, acaba reforçando o estigma.
Livros como “Como Arruinar um Casamento” não apenas erram por desconhecimento técnico sobre o tema, mas por contribuírem para um imaginário social em que a dor mental é vista como escolha, e o sofrimento como enredo descartável. Quando a arte falha em reconhecer a gravidade de algo tão devastador, não apenas perde profundidade — ela perpetua o mesmo descaso que, fora da página, custa vidas.
Para agravar, quando Lila — a noiva — descobre a intenção de Phoebe, ela não pede ajuda, não tenta dissuadi-la, não chama ninguém. Apenas aceita a decisão e volta a se preocupar com o próprio casamento. Isso não é humor; é desumanidade disfarçada de leveza. Fere a verossimilhança ética da história. Mesmo dentro de uma comédia de costumes, o leitor espera algum gesto mínimo de cuidado quando o assunto é vida ou morte.
Se Lila não aciona ninguém, não insiste, não busca ajuda, a narrativa precisa justificar essa escolha com profundidade, seja pelos limites da personagem, pelo medo, pela ignorância, pela negação ou por um egoísmo consciente que traga consequências. Quando isso não acontece, o riso se transforma em desconforto, porque o texto, em vez de ironizar a indiferença, parece normalizá-la para que a trama continue funcionando. E o que se vende como humor revela, na verdade, uma falha de empatia.
Mais adiante na trama, o ex-marido de Phoebe aparece no hotel. Ele é um dos motivos que a levaram ao desejo de morrer. Ainda assim, na primeira noite, eles transam, como se todo o sofrimento anterior fosse suspenso em troca de um momento de prazer.
A questão aqui não é moral, mas de coerência psicológica e de ponto de vista narrativo. Pessoas em luto amoroso podem, sim, ter recaídas ou agir por impulso. Isso é profundamente humano. O problema está em como o texto constrói e resolve a situação. Se a narrativa apresenta o adultério do ex como o estopim do colapso de Phoebe, mas trata a recaída dela como uma cena leve, sem conflito interno, sem culpa, sem dissociação, sem ambivalência, sem consequências, o resultado é um esvaziamento dramático. O que poderia ser um momento de complexidade emocional vira apenas um artifício de roteiro, uma contradição mal explorada que enfraquece tanto a personagem quanto o sentido da dor que a move.
Essa superficialidade, somada à indiferença ou ao evidente desconhecimento sobre como construir uma verdadeira comédia de costumes, transforma Phoebe em uma caricatura, não em uma pessoa. E essa impressão se aprofunda à medida que a história avança: em menos de uma semana, ela se apaixona, muda completamente sua visão de mundo e decide seguir em frente.
Mas eu me pergunto: mudou com base em quê? Nada realmente impactante acontece. Apenas uma sucessão de encontros e desencontros, acompanhados por diálogos longos, repetitivos e desinteressantes, que não desenvolvem a trama nem os personagens. O que deveria ser transformação soa como conveniência. E o que poderia ser leve e sensível, torna-se apenas maçante.
“Como Arruinar um Casamento” já seria um livro ruim pelos motivos mencionados, mas consegue ir além. O texto abusa de piadas de mau gosto, comentários religiosos deslocados e referências insensíveis à saúde mental, quebrando qualquer possibilidade de empatia e desestabilizando o tom.
E isso não pode ser justificado como “voz de personagem” ou “crítica social”: são escolhas narrativas que tentam soar engraçadas, mas resultam apenas ofensivas, ignorantes e preconceituosas. O humor falha porque não revela nada sobre o mundo, apenas expõe o vazio do que o livro pretende tratar com leveza.
Humor e dor podem, sim, caminhar juntos. Muitas pessoas, inclusive, recorrem ao humor como forma de defesa diante do sofrimento. Mas há uma linha tênue entre usar o humor como contrapeso da dor e usá-lo para apagar ou banalizar a gravidade do que está sendo vivido. Quando isso acontece, o resultado não é leveza, é desrespeito.
A diferença é clara: o bom humor convida o leitor a rir junto da personagem, com empatia, e não da condição dela, como se fosse piada. O bom humor abre camadas de humanidade, não esvazia os temas que aborda.
Por isso, se ao final da leitura a sensação for de que a ideação suicida serviu apenas como um pretexto para cenas “engraçadinhas” e situações forçadas, essa impressão não é exagerada — é legítima. O livro falha, nesse caso, não apenas na construção emocional, mas na ética com que trata um tema tão delicado.
É possível que alguns leitores se conectem à amizade improvável entre as personagens e ao tom de farsa social presente no cenário — um casamento extravagante, num hotel de luxo, cercado por figuras da alta classe. Para esse público, a tentativa de suicídio talvez soe menos como um retrato realista de saúde mental e mais como um símbolo: o gesto extremo que marca o “fundo do poço” da protagonista. A graça, nesse caso, estaria na reviravolta repentina, na ressignificação da vida em poucos dias e no sarcasmo diante de rituais vazios.
Mas mesmo dentro dessa chave de leitura, certos cuidados não podem ser ignorados. Gatilhos narrativos como ideação suicida não são ferramentas baratas. Se entram em cena, precisam ser tratados com consequência, profundidade e responsabilidade. Personagens que testemunham um risco de morte não são figurantes morais: o que fazem (ou deixam de fazer) define a ética da narrativa.
Da mesma forma, recaídas emocionais exigem consequência. Não por moralismo, mas por humanidade. Ignorar os efeitos, os conflitos internos, as contradições que acompanham uma decisão impulsiva, é esvaziar o personagem, não compreendê-lo.
O humor pode, sim, coexistir com a dor. E quando bem usado, tem o poder de revelar hipocrisias e iluminar feridas sem desumanizá-las. Mas para isso, é preciso mais do que frases espirituosas ou situações excêntricas. É preciso olhar para o que dói com alguma verdade.
Também é importante distinguir o absurdo cênico da verdadeira comédia. Um travesseiro de coco perfumado, “canudos de pênis ecológicos” ou uma noiva excessivamente controladora podem, sim, servir de matéria-prima para o humor. Mas para que o absurdo se transforme em comédia, é preciso mais do que excentricidade. O texto precisa construir um ponto de vista claro: quem observa essas cenas? Com que grau de ironia ou crítica? Além de articular recursos como a repetição com variação (o motivo retorna, mas de forma mais aguda ou reveladora) e a reversão (o que inicialmente parecia poder, status ou normalidade se revela fragilidade ou contradição).
Sem essas engrenagens bem ajustadas, o que sobra não é humor. É apenas uma sucessão de situações estranhas. E o estranho, por si só, não é engraçado.
Quando o que domina não é o riso, mas o assombro diante de situações forçadas, quando temas sérios entram em cena apenas como moeda para movimentar o enredo, não estamos falando de humor. Estamos falando de dissonância tonal. E ler isso como um insulto não é exagero; é uma resposta ética a uma promessa que o próprio texto quebrou.
No fim, “Como Arruinar um Casamento” não foi uma leitura leve, nem engraçada, nem provocadora. Foi só incômoda — não porque tocou em feridas, mas porque tratou essas feridas como se fossem enfeite de mesa em um casamento de mentira.
AVALIAÇÃO: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| AUTORA: Alison Espach TRADUÇÃO: Laura Folgueira EDITORA: Harlequin Books PUBLICAÇÃO: 2025 PÁGINAS: 368 COMPRE: Amazon |

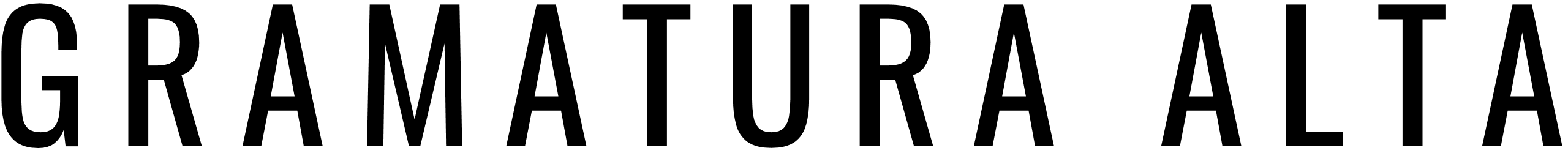




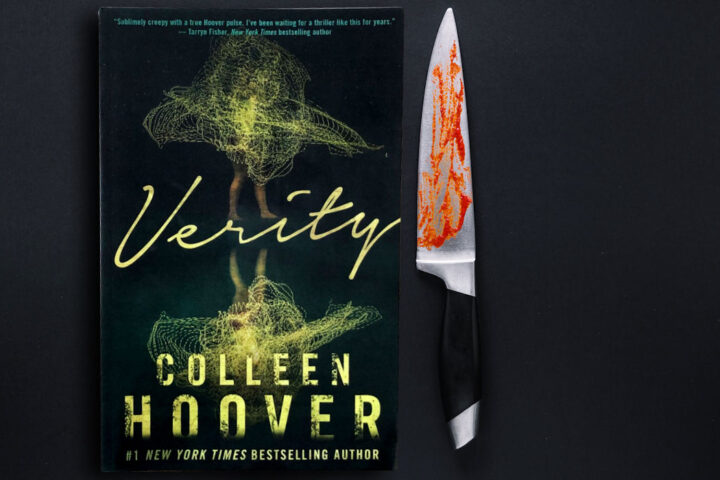
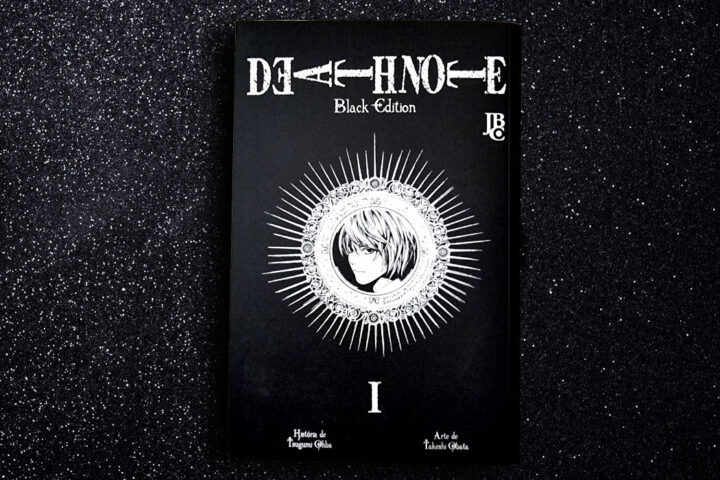
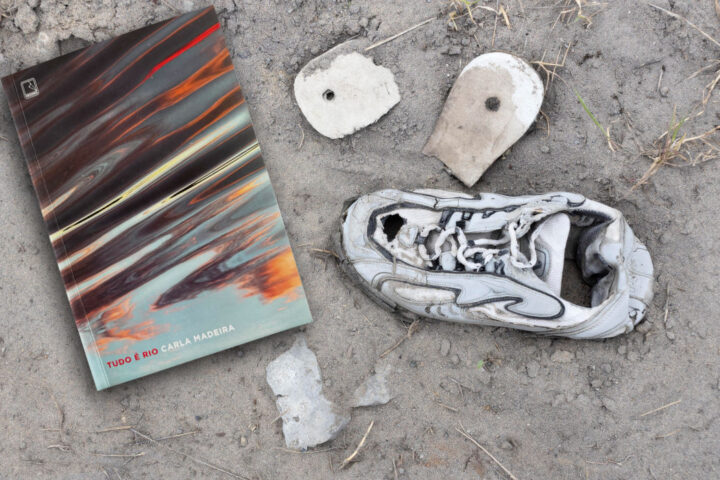
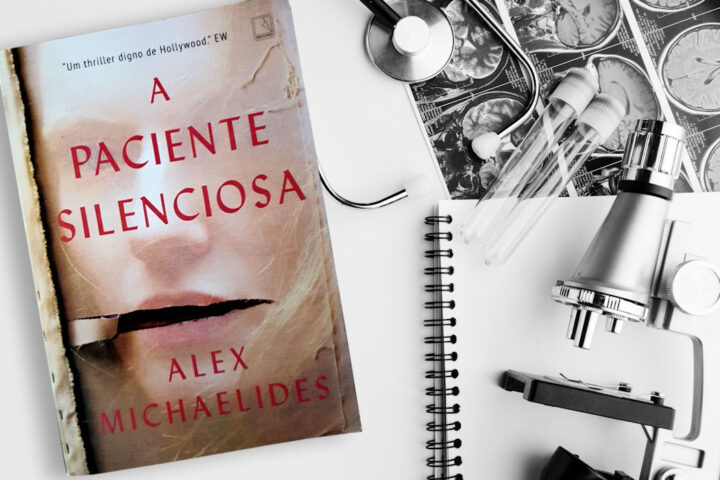



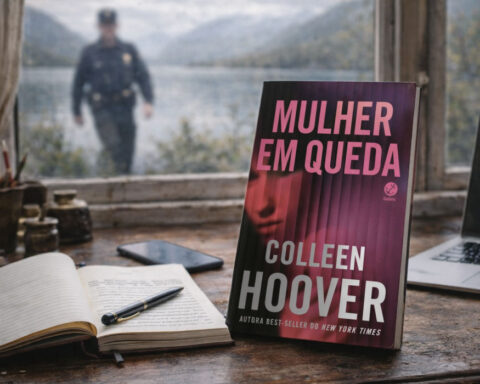


REDES SOCIAIS