Às vezes, ao terminar uma leitura, ficamos na dúvida sobre como classificá-la ou, para alguns, como avaliar o livro. Lá pela página 60 de “a amiga maldita”, eu já sabia quantas estrelas daria ao livro (mesmo antes de chegar ao final, sim, isso mesmo, eu sou uma pessoa ansiosa). Gosto de pensar que minhas avaliações geralmente se baseiam na experiência emocional que a obra me proporciona, e não nos aspectos técnicos, porque, convenhamos, quem sou eu para isso? Como uma mulher com autoestima acadêmica frágil e uma propensão a invalidar minhas próprias produções, não me considero apta a ostentar o título de crítica literária. Ainda assim, é curioso que a leitura desse livro tenha vindo logo após eu ter escrito um texto sobre o ato político de narrar o desejo feminino. Não que “a amiga maldita” seja um romance com cenas de sexo — não tem nada disso. Mas, sim, ele transborda desejos femininos: aqueles cotidianos, complexos e, às vezes, tão universais quanto pessoais.
Confesso ter achado interessante como a linha de crítica social e feminista perpassa a obra de forma fluida, ainda que não linear. Enfim, antes que eu me perca em divagações, já adianto: este livro merece uma resenha extensa. E isso é engraçado porque, ultimamente, venho aceitando com uma estranha facilidade que sou, no fundo, um ser humano vaidoso. É quase cômico: reconhecer-me e, ao mesmo tempo, resistir a essa ideia de mim mesma. Foi por isso que achei curioso ter me encontrado novamente lendo um livro que me despertou tanta vontade de escrever. Acho que preciso parar de justificar minha escrita em cima de outras coisas, quando na verdade, a única justificativa é a minha vontade, o meu desejo.
Sobre a obra, comecemos pelas informações básicas: “a amiga maldita” é o primeiro livro da bela romancista italiana, de 29 anos, Beatrice Salvioni. Antes mesmo de sua publicação em italiano, os direitos da obra foram vendidos para 32 países, e, parece que o livro já está sendo adaptado para uma série de TV. Um feito e tanto, não é? Publicado pela Intrínseca neste ano, a obra foi lançada originalmente em 2023. Ao descrever Beatrice, colocam seu livro ao lado de nomes como Natalia Ginzburg, Alberto Moravia e Elena Ferrante. Uma comparação que, ao mesmo tempo em que é um elogio, carrega um fardo imenso. Imagine só a pressão de ter Elena Ferrante como inspiração!
“a amiga maldita” se insere no gênero da ficção histórica, mas vai além disso (eu sempre acho isso — arzinho saindo do nariz). É um reflexo poderoso sobre os anseios femininos que, apesar de ambientados em outra época, ecoam no presente. No livro, o nome da “maldita” e da nossa narradora são revelados em momentos específicos, de forma tão carregada de sentimento que, sinceramente, eu gostaria de replicar essa experiência aqui. Mas sei que é impossível. Ainda assim, é importante que você, leitora e leitor, saiba que essa minha vontade de me delongar para apresentar as personagens não é por acaso.
O cenário do livro é a Itália dos anos 1935, durante o regime fascista de Mussolini. O contexto histórico não é apenas pano de fundo – é parte vital da narrativa. Mussolini, com sua ideologia autoritária e nacionalista, moldou um país mergulhado em medo, ansiedade e desigualdades. Mas não vou transformar esta resenha em uma aula de história. O que importa aqui é como Beatrice transforma esse cenário em um campo simbólico riquíssimo. Por isso, entender o contexto histórico é fundamental para captar certas coisas sobre os personagens. Não estou dizendo que é impossível ler o livro sem saber nada sobre o fascismo, mas, para mim, conhecer alguns fatos enriquece a experiência. Pois, contribui com a percepção sobre como o fascismo misturou totalitarismo, corporativismo e nacionalismo em uma ideologia que prometia união, mas mascarava controle e opressão.
Ler “a amiga maldita” é perceber que cada detalhe carrega uma simbologia. É como se cada cena, cada diálogo, tivesse um significado escondido – ou talvez nem tão escondido assim. Como brasileira, às vezes senti que não captava tudo, e isso me lembrou como gringos podem se sentir com obras brasileiras. Eles percebem o que está sendo dito, mas perceber não significa necessariamente interpretar. Percepção e interpretação são processos complementares. A percepção é o ponto de partida, o ato de captar sensações de forma imediata e intuitiva. Já a interpretação é o passo seguinte, em que se atribui significado ao que foi percebido. Calma, já explico.
Seguimos para a história do livro: a narrativa gira em torno de Francesca e Maddalena (confesso que gostaria de ter apresentado os nomes delas com a mesma poesia e sensibilidade com que Beatrice o fez). Vindas de mundos diferentes, as duas vivem realidades sociais opostas, algo que se torna evidente em pequenos detalhes – como Maddalena dizendo que tangerinas são apenas para ocasiões especiais, enquanto Francesca pensa que sua mãe sempre compra um saquinho no início do mês.
A construção do vínculo entre elas é algo que muitos descrevem como “inesperado”. Discordo. Desde o início, Francesca nos apresenta a “Maldita” como alguém fascinante – para ela e, inevitavelmente, para nós, leitores. Francesca deseja Maddalena, sua presença, sua coragem e, principalmente, sua amizade. Não há nada de inesperado nisso. Quando uma mulher – seja ela menina ou não – deseja algo, ela deseja.
Francesca é uma personagem complexa, mas nem tanto, criada em uma família que não é rica, mas possui condições de vida medianas, é fascinada por Maddalena, cuja vida é marcada pela pobreza e por boatos que a definem como “amaldiçoada”. Francesca é uma criança cheia de desejos – muitos deles confusos até para ela mesma. Deseja a atenção do pai, o afeto da mãe, uma amiga da sua idade. Deseja não ser vista pelos olhos repulsivos de homens mais velhos, mas deseja ser notada — não de forma sexual, mas como alguém que importa. Acima de tudo, ela deseja coragem (a coragem que vê em Maddalena, a nossa “amiga maldita“, que de maldita não tem nada).
Até eu me peguei fascinada pela ideia de Maddalena. Enquanto Francesca, criada em um ambiente mais rígido, precisa se comportar e aparentar feminilidade, Maddalena vive de forma solta, enfrentando os boatos e maldições que a cercam. Nossa “amiga maldita” é uma força da natureza! Ela é destemida, selvagem e, ao mesmo tempo, profundamente marcada por suas circunstâncias. Mesmo com apenas 12/13 anos, Maddalena já compreende a importância de ser dona de seus próprios pensamentos e de resistir a um sistema que busca moldá-la. Apesar de sua bravura, é evidente que Maddalena também é frágil. É impossível não admirar como ela construiu uma armadura com as poucas armas que tinha. Ler sobre Maddalena é sentir um misto de inspiração e melancolia. Você sabe que ela é uma criança traumatizada, mas ainda assim, sua força e determinação são quase palpáveis.
E a amizade entre as duas é algo sublime. Francesca ama Maddalena. Ela nota cada detalhe – o cheiro, os movimentos dos braços e pernas, o sorriso. Logo no início, Francesca narra uma cena em que Maddalena é verbalmente maltratada pelos moradores da cidade. Em meio às ofensas e ao desprezo, a única coisa que Francesca consegue pensar é: “Ela parecia a criatura mais bonita que eu já tinha visto” (p. 21). Maddalena, desafiadora, fazia uma reverência debochada enquanto os outros cuspiam no chão ao vê-la passar. E Francesca, fascinada, só via encanto naquele gesto. Ao meu ver, esse fascínio é compreensível. Uma menina que cresce cercada por restrições, negligenciada emocionalmente pelos pais, vê em Maddalena tudo o que ela gostaria de ser.
No início, a admiração de Francesca por Maddalena é quase uma projeção de seus próprios desejos reprimidos. Mas, à medida que a história avança, essa relação se aprofunda, tornando-se algo ainda mais poderoso. É uma irmandade forjada na admiração e no desejo de pertencimento. Francesca, que cresce temendo os homens e sentindo vergonha dos olhares predatórios que recebe, encontra em Maddalena um refúgio, uma inspiração. Maddalena, por sua vez, ensina Francesca a ser corajosa, a desafiar normas e a lutar por si mesma. É um amor que transcende definições simplistas e que Beatrice descreve com uma delicadeza furiosa. A amizade entre mulheres é algo que sempre me surpreende. E é bonito de se ver (ler).
Outro aspecto que torna o livro interessante é a forma como Beatrice trabalha os sentidos na narrativa. Desde as primeiras páginas, o leitor é envolvido por cheiros, texturas e sons que tornam a leitura quase tátil. Você sente o desconforto do vestido apertado de Francesca, o calor sufocante do verão italiano, e até o cheiro do ar ao redor das personagens. Essa habilidade de transportar o leitor para dentro da história intensifica o impacto emocional da narrativa. Além disso, há um simbolismo evidente em cada detalhe.
Durante a leitura, fica claro que cada elemento tem um significado mais profundo, uma história subjacente. Muitas vezes, senti que estava deixando passar algo — talvez por não ser italiana e não ter as mesmas referências culturais. Essa sensação de que há algo escondido, mas não inacessível, permeia todo o livro. Isso é particularmente evidente em momentos como quando aparece a expressão “mea culpa, mea maxima culpa”. Essa expressão, presente no ato penitencial católico, pode ser interpretada como um pedido de perdão, um reconhecimento de culpa ou, para os mais devotos, uma confissão do pecado e súplica por redenção divina. Beatrice aborda a religião de forma crítica, mas também emotiva, mostrando como a fé molda as motivações e as ações das pessoas, mesmo quando não é plenamente compreendida.
Um dos momentos marcantes do livro é a visita de Francesca e sua mãe à lápide do irmão falecido no dia 26 de abril (coincidentemente, meu aniversário). O irmão de Francesca viveu poucos meses, vítima de poliomielite. Durante a visita, a mãe leva gladíolos para o túmulo, flores que podem simbolizar integridade, força de caráter e amor a um ente querido, o que adiciona uma camada de complexidade ao momento. A flor em questão é conhecida na Itália e, pesquisando mais a fundo, percebi como a escolha foi perspicaz. Talvez, para quem não leu o livro, pareça irrelevante. Mas no contexto da obra, esse detalhe é um encaixe perfeito. É o tipo de informação que poderia passar despercebida, mas que, quando notado, amplia a compreensão emocional da obra. E esse simbolismo me impactou. Não por eu conhecer o suposto significado das flores de antemão, mas porque percebi como Beatrice construiu as camadas simbólicas de sua obra com suavidade.
Aproveitando que estamos falando de construções de significados, é impossível não entrar na complexa relação de Francesca com sua mãe. Até aqui, acredito que já está claro o tom feminista da obra, certo? Pois bem, minha reflexão parte desse ponto. Durante o livro, você sente uma antipatia crescente pela mãe de Francesca. Ela é rígida, cheia de regras, hipócrita e, sobretudo, refém de um sistema que já a moldou para ele. No entanto, mesmo com raiva, você sente empatia – ainda que pouca. Quando crianças, tendemos a colocar nossos pais em caixas bem definidas. Julgamos suas ações sem entender os contextos que os moldaram, porque, afinal, vivemos pouco e enxergamos tudo a partir de nosso universo limitado. Com Francesca, não é diferente. Ela não entende por que a mãe se arruma tanto, se importa tanto com as aparências, ou prefere pentear o cabelo a passar tempo com a filha. E por isso, ela julga. E você, leitora e leitor, faz o mesmo.
Agora, sobre o pai. Não pense que ele escapa ileso do nosso julgamento. Logo no início do livro, ele se mostra ainda mais ausente do que a mãe. Enquanto ela está minimamente presente – mesmo que de forma rígida –, ele é quase um fantasma com corpo físico. Tem opiniões sobre chapéus, mas não sobre como criar a filha. Um homem que claramente não ama mais a esposa, mas que, preso às convenções, não pode se separar (nem mesmo diante do óbvio chifre). Um corno passivo, relapso. Não participa da criação da filha de forma significativa, mas, ocasionalmente e obrigado pela esposa, aparece para “agir como pai” (spoiler: ele não age!). Achei curioso como a autora tentou (fica aí o questionamento se tentou mesmo – outro arzinho pelo nariz) mostrar o quanto somos mais severos ao julgar as mulheres. Até a página 150, o pai parece ser o maior culpado pela negligência afetiva com Francesca. Em um trecho, quando fala sobre ele, ela pensa: “Eu sempre soube que, antes de mim, vinha o trabalho” (p. 79). Mas, aos poucos, eu senti que a autora ia suavizando a nossa visão sobre ele. O pai se torna aquele homem sofrido, que ama, mas não sabe demonstrar. Sério, poupe-me! Um único momento de elogio à filha não apaga toda a sua ausência. Quando Francesca foge na noite de Natal, apenas a mãe grita e impõe castigos. O pai? “Que bom que você está bem. Vamos dormir“. E aí está o ponto: somos levados, mais uma vez, a culpar as mulheres de forma mais dura. É sutil, mas devastador. Enquanto a mãe é julgada por seu rigor, o pai é visto quase com pena, como alguém que simplesmente não consegue se expressar (poxa, coitadinho do corno!).
A mãe é vista como vilã, enquanto o pai recebe certa indulgência, ainda que não a mereça. Esse aspecto da obra é, para mim, um ponto perigoso, pois, acho que talvez Beatrice não tenha feito isso de forma intencional. A relação de Francesca com seus pais é um retrato das complexidades de crescer em um ambiente rígido e opressivo. Enquanto o pai se isola no trabalho, a mãe carrega o fardo de ser a única figura presente, mas suas ações são interpretadas como duras e insensíveis. Por isso, ao crescer, Francesca não encontra felicidade – apenas medo. Medo dos homens estranhos, velhos e repulsivos que a elogiam dizendo: “Você já está uma mocinha”. Medo quando sua mãe lhe diz que deve agradecer esses comentários porque significam que a acham bonita. Mas Francesca não sente isso como um elogio. “Entretanto, eu não me achava bonita, uma vez que a atenção dos homens fazia com que eu me sentisse culpada” (p. 114). Quantas jovens mulheres, diariamente, não deixam de usar uma roupa ou de dizer algo por causa desse olhar sufocador, quase predatório? É uma questão que ressoa profundamente, não importa a época ou o contexto.
À medida que o livro avança, a história revela mais nuances da amizade entre Francesca e Maddalena. A ligação delas é doce e amarga ao mesmo tempo – uma amizade que muitas mulheres reconhecerão como reflexo das suas próprias vivências. Francesca tenta acompanhar Maddalena, aprendendo com ela, se inspirando em sua coragem e enfrentando suas próprias limitações. É uma jornada de autodescoberta cheia de momentos delicados, como sua primeira menstruação, seu primeiro beijo e suas dúvidas sobre a verdadeira natureza da amiga. É aí que Beatrice destaca a força que as mulheres encontram em suas conexões. A amizade entre Francesca e Maddalena é um exemplo disso.
Ao longo da narrativa, a guerra emerge como uma força que molda as vidas das personagens, intensificando os conflitos e os dilemas que enfrentam. A relação de Maddalena com sua família, especialmente com seus irmãos, é marcada tanto pelo amor quanto pela dor que o conflito traz. É devastador acompanhar o impacto da partida de seu irmão para a guerra, uma consequência direta das opressões políticas e sociais da época. “Queria dizer que os homens que falam de pátria enchem a boca, mas só de ar, porque a pátria não dá de comer (p. 98)”.
Um dos momentos mais simbólicos do livro é quando Maddalena diz: “As palavras são perigosas se forem ditas sem pensar” (p. 93). Essa frase capta a resistência que permeia toda a narrativa. Em um período de opressão, em que a liberdade de expressão é limitada e as mulheres são constantemente silenciadas, cada palavra dita ou não dita carrega um peso enorme. Maddalena transforma sua dor e marginalização em força, utilizando as palavras e sua “maldição” como uma arma contra aqueles que a ferem.
Depois da página 160, a narrativa acelera, aproximando-se dos finalmente. A cena que se inicia no prólogo finalmente se conecta ao restante da história, fechando um ciclo de forma coesa. É um ritmo mais dinâmico, mas sem perder o cuidado na construção. Enquanto lia, comentei com amigos que era evidente o quanto Beatrice havia estudado para escrever este livro – tanto técnica quanto emocionalmente. A forma como ela monta cenários, desenvolve diálogos e cria camadas de significados é admirável.
Não fiquei decepcionada com o desfecho, como vi algumas pessoas comentarem. Pelo contrário, acho que ele faz jus à complexidade da narrativa. Para mim, “a amiga maldita” é uma obra que não precisa de continuação. Sua força está justamente na sua singularidade, em tudo o que ela sugere e deixa para o leitor imaginar.
Embora o livro se passe em 1930, é impossível ignorar os ecos contemporâneos da história. O papel da mulher, tratado de forma subordinada tanto no passado quanto em muitos contextos atuais, é desafiado pelas ações e pensamentos das personagens. Mesmo pequenas resistências, como rejeitar padrões de beleza impostos, se tornam atos de coragem e rebeldia em um cenário tão opressivo. Foi por isso que, logo no início, eu já sabia quantas estrelas daria a “a amiga maldita”. Quatro estrelas. Agora, ao encerrar esta resenha, explico por quê.
Como já disse, não me considero tão digna de avaliar tecnicamente uma obra. Minhas classificações se baseiam nos sentimentos que a leitura desperta em mim, na experiência que ela proporciona. E, embora “a amiga maldita” tenha me tocado, sabia desde o começo que ela não me impactaria tão profundamente quanto poderia. E, meu Deus, como consigo dizer isso depois de tudo o que escrevi? Explico. Cito “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector, como exemplo. Quando li, as referências nacionais me impactaram de maneira tão simbólica que não havia dúvidas: cinco estrelas. Já em “a amiga maldita”, eu me comovi, mas não me sensibilizei na mesma intensidade. Porque, embora meu raso conhecimento histórico no assunto me permitam compreender o contexto da Itália fascista, eu não carrego, por exemplo, a simbologia da flor gladíolo como algo dentro de mim, eu sei sobre, mas não é simbólico na minha vida. Não da mesma forma que uma callisia repens, planta que cresce no cemitério onde minha bisavó está enterrada. Ou mesmo a myosotis, que tatuei no braço esquerdo, ao lado de um desenho em memória de tios e primo que perdi na pandemia, cujo nome em português – não-me-esqueças – é carregado de saudade.
O que quero dizer é exatamente isso: Beatrice traz elementos simbólicos que, sem a vivência cultural, podem não ressoar tão profundamente em leitores estrangeiros. Mas isso não é um problema, certo? Cada leitor carrega sua própria bagagem, e isso influencia como uma história será recebida. É como naquele famoso vídeo da Clarice Lispector, em que ela diz que um homem confessou não entender suas palavras, enquanto uma jovem afirmou que sua obra é leitura de cabeceira. Livros não precisam ser universais para serem potentes. Eles só precisam encontrar os leitores certos.
AVALIAÇÃO: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| AUTORA: Beatrice Salvioni TRADUÇÃO: Marcello Lino EDITORA: Intrínseca PUBLICAÇÃO: 2024 PÁGINAS: 256 COMPRE: Amazon |

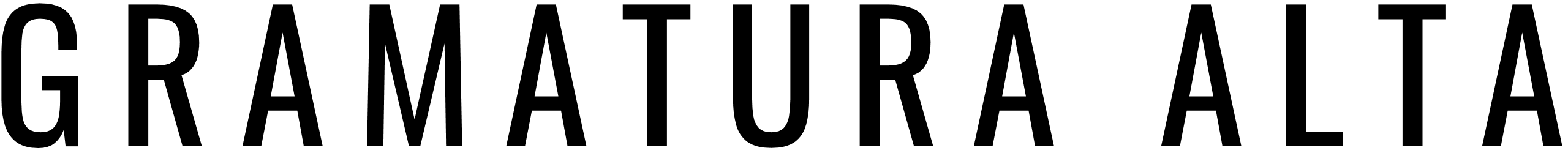




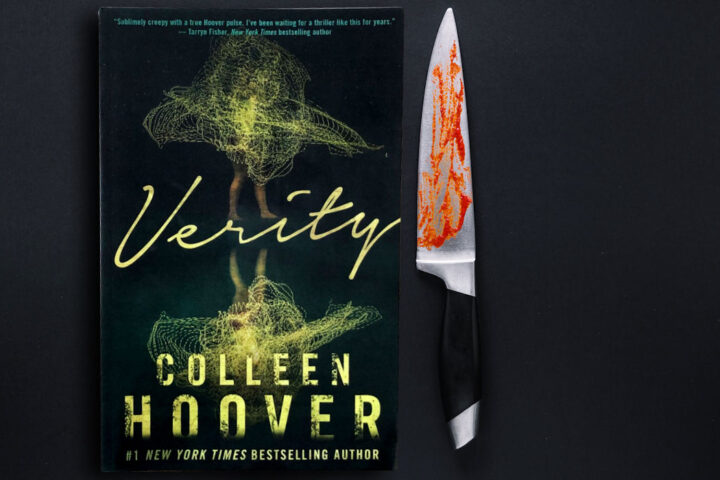
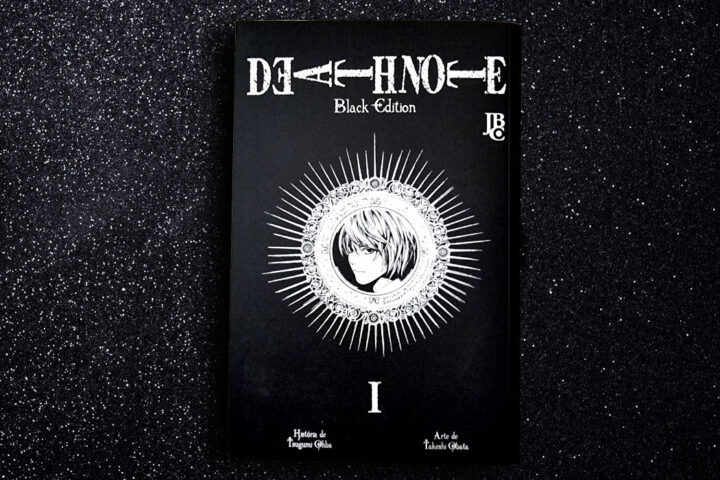
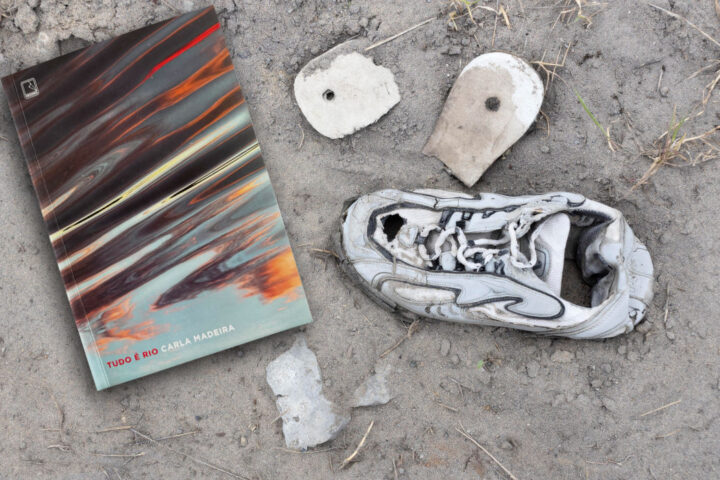
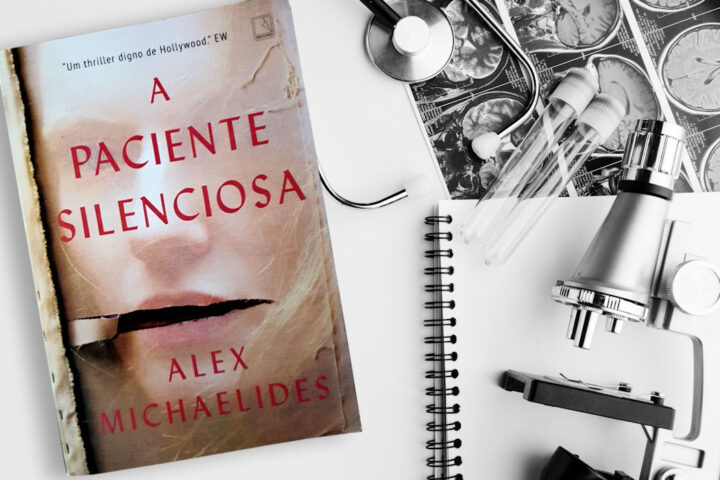



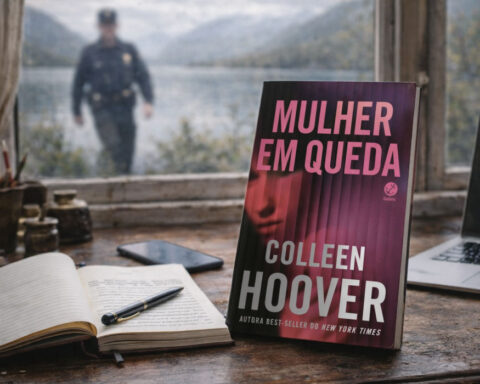


REDES SOCIAIS